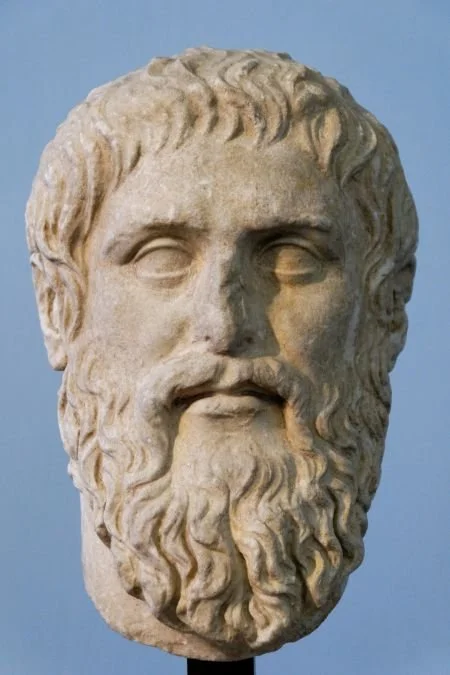Livros a mais
/Thomas Williams
Não há livros a mais, assim como não há amizade a mais ou beleza a mais. Thomas Williams, escritor norte-americano, ajuda-nos a dar sentido ao que muitos consideram a loucura da desmesura livresca: uma boa ou má húbris, a hipertrofia de uma biblioteca composta por parcelas cada vez mais vastas de porler (neologismo que creio ter forjado há algum tempo para um artigo da Enfermaria 6). A «antibiblioteca», como lhe chama Nassim Taleb, é mais importante do que a própria biblioteca. Mudar de paradigma axiológico acerca do valor do que ainda não foi lido talvez implique começar por conjurar linguisticamente o que parece supérfluo ou inútil — como fizeram os japoneses com o termo tsundoku.
Vejamos o que Williams tem para nos dizer na entrevista abaixo, traduzido por Victor Gonçalves do jornal Le Monde (publicada a 22 de agosto de 2025).
«Quando eu tinha 22 anos e morava em Lille, pedi um dia à minha mãe que me enviasse a edição em seis volumes da gigantesca obra Em Busca do Tempo Perdido. Todas as tardes ou noites chuvosas eram então dedicadas ao projeto de terminar aqueles milhares de páginas. Para minha grande tristeza, essa empreitada permanece inacabada — na verdade, ainda não consegui ir além de A l’ombre des jeunes filles en fleurs. Mas o simples facto de ler Proust transformou-me e deu-me confiança em mim mesmo: tornei-me alguém que lê Proust, ou seja, um homem novo. Aliás, continuo a considerar-me alguém que, um belo dia, terá lido Proust, ou mesmo alguém que relerá Proust (ficamos com isso para o próximo verão, ou talvez para o seguinte!). Os bibliófilos experientes reconhecer-se-ão facilmente nestas linhas.
Tal como vestir-se ou viajar, ler é uma atividade que, em última análise, pode estar ao serviço de uma ambição. Trata-se de nos reinventarmos, de nos imaginarmos mais fortes, mais autênticos, capazes de se nos elevar acima das circunstâncias e de ganhar um novo impulso para enfrentar o mundo. Assim, surge uma outra versão de nós mesmos: parecida connosco, mas um pouco mais sofisticada, mais interessante, mais próxima daquilo que gostaríamos de ser... E então esforçamo-nos para moldar a vida real a esse ideal. É assim que começamos a assemelhar-nos com o que o poder indomável da imaginação nos permitiu vislumbrar.
Este verão, parece que, sem dar por isso, adquiri algumas dezenas de livros novos. Uma biografia de James Baldwin com 600 páginas, outra de William F. Buckley Jr. com quase 1000 páginas, poesia com Henri Cole e Ishion Hutchinson, ficção com Joyce Carol Oates, história da arte com livros sobre Max Beckmann ou Hieronymus Bosch, a coleção de relatos de viagem de um amigo que se aventurou da Turquia ao México... e muitos outros, demasiados para citar.
Comprei alguns e outros foram-me enviados para recensear na revista The Atlantic. Todos, sem exceção, despertaram em mim um desejo irreprimível de leitura. Mas esse desejo choca com a realidade matemática do meu quotidiano: é simples, não tenho tempo suficiente para ler todos esses livros. Não agora, pelo menos. É a desculpa a que me agarro à medida que as minhas paredes se cobrem de estantes adicionais e as minhas pilhas de livros continuam a crescer. Quando era mais jovem, sentia-me culpado por não conseguir ler tanto quanto gostaria. Mas, com o passar dos anos, passei a ver uma certa beleza, e até mesmo uma forma de nobreza, em acumular à minha volta mais escritos — mais pensamentos — do que se pode consumir numa vida inteira.
Tarefa hercúlea
O criador de moda Karl Lagerfeld (1933-2019) frequentava a minha livraria parisiense favorita, a Galignani, na rue de Rivoli, e a sua casa, nas proximidades, abrigava uma biblioteca absolutamente lendária, com 250 000 títulos no momento da sua morte, em 2019. O escritor italiano Umberto Eco tinha «apenas» 30 000 a 50 000 livros, mas, segundo os seus cálculos, esse número representava ainda assim um volume de leitura impossível de alcançar numa só vida. Ler um livro por dia durante setenta anos seguidos perfaz apenas um total de 25 000 títulos. Existe um vídeo no YouTube que nos permite acompanhar o escritor pela sua biblioteca labiríntica — um passeio tão exaustivo quanto fascinante.
Há quinze anos, publiquei Losing My Cool [Une soudaine liberté, traduzido do inglês (EUA) por Colin Reingewirtz, Grasset, 2019], que narra em parte a minha infância num subúrbio residencial de Nova Jérsia, onde o meu pai formara uma biblioteca com pelo menos 15 000 títulos. Os livros empilhavam-se nas paredes, em todas as superfícies, em todos os cantos disponíveis, e até na casa de banho, na cozinha, na garagem, na lavandaria e no sótão. É possível ler 15 000 livros numa vida — e o meu pai tenta (ainda e sempre, o que me encanta) corajosamente alcançar esse objetivo —, mas a tarefa é hercúlea.
«É irracional pensar que é preciso ler todos os livros que se compram, assim como é irracional criticar aqueles que compram mais livros do que podem ler», disse Umberto Eco. Na vida, há coisas das quais é preciso ter sempre uma reserva abundante, mesmo que, no fim, só se use uma parte.»
Ao longo das décadas, eu próprio acumulei alguns milhares de livros; eles têm valor suficiente para mim para que eu me esforce ao máximo para os enviar para o outro lado do oceano quando tenho de me mudar – mesmo aqueles que não li, mas cuja presença me tranquiliza sempre que o olhar se detém na sua lombada familiar. Acabei por compreender que não são tanto um fardo, mas sim uma forma de riqueza, no sentido literal da palavra.
Em The Black Swan [Le Cygne noir. La puissance de l’imprévisible, traduzido do inglês (EUA) por Christine Rimoldy, Les Belles Lettres, 2021], Nassim Nicholas Taleb vai mais longe, afirmando que os livros que já lemos têm menos valor do que os ainda não abertos: «[…] À medida que envelhecemos, acumulamos mais conhecimento e obras, e o número crescente de livros não lidos que povoam as prateleiras da nossa biblioteca fita-nos de forma ameaçadora. De facto, quanto mais sabemos, mais aumentam as filas de livros não lidos. Chamemos “antibiblioteca” a esse conjunto de livros não lidos.»
Milagre temporal
A palavra «antibiblioteca» soa um pouco estranha, mas talvez haja uma opção melhor na língua japonesa com tsundoku, ou seja, «uma pilha de livros comprados, mas ainda não lidos». O fenómeno tem uma dimensão bastante positiva, sobretudo se concordarmos com o que explica um artigo memorável do The New York Times, assinado por Kevin Mims, de 2018: «A biblioteca de uma pessoa é muitas vezes uma representação simbólica da sua mente. Uma pessoa que deixou de aumentar a sua biblioteca pessoal talvez tenha chegado a um ponto em que pensa que sabe tudo o que precisa saber e que nada do que não sabe a pode prejudicar. Já não tem o desejo de crescer intelectualmente. A pessoa cuja biblioteca está sempre a crescer compreende a importância de manter uma mente curiosa, aberta a novas vozes e ideias.»
É isso que me parece tão crucial — até transcendente — na aquisição quase perpétua de livros em formato físico, erigida como um modo de vida. Mesmo e talvez especialmente na era dos livros eletrónicos e dos recursos digitais ilimitados. E nunca qualquer apelo à frugalidade ou ao pragmatismo me convencerá de que não vale a pena.
Os livros não são apenas uma forma de informação ou comunicação entre outras, num mundo onde estas duas grandes fontes de distração abundam. São antes uma tecnologia extraordinária, capaz de realizar uma espécie de milagre temporal. O próprio tempo contrai-se entre o autor e o leitor, e anos de reflexão conseguem ser articulados, afinados e transmitidos num formato que pode ser absorvido em apenas algumas horas.
O meu terceiro livro, Summer of Our Discontent, acaba de ser publicado em inglês, comecei a escrevê-lo na primavera de 2021, mas só terminei as revisões no outono de 2024, revendo minuciosamente ideias e frases já lidas centenas de vezes, na esperança de alcançar a expressão mais pura. No entanto, em não mais de oito horas qualquer pessoa o pode ler. Escrever e ler são atividades fundamentalmente diferentes deste ponto de vista. Por isso, parece-me útil considerar os livros que nos rodeiam — e, em particular, todos os tesouros que ainda esperam ser descobertos — não em função do espaço que ocupam nas nossas estantes, mas sim pela imensa extensão de tempo que nos permitem explorar.
Tudo o que a mente humana pode produzir de melhor e mais completo num século pode caber num metro de livros. Para mim, é mesmo a oportunidade [affaire] perfeita.»