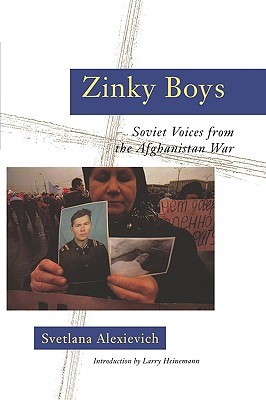A lei do piropo
/NOTAS SOBRE O PORTUGAL PROFUNDO (E O PORTUGAL SUPERFICIAL TAMBÉM)
As reacções que se podem ler nas caixas de comentários dos jornais portugueses sobre essa lei com um nome tão castiço, acabada de ser promulgada (Lei do Piropo), se uma lei promulgada em Agosto pode ser descrita deste modo, são todo um documento sociológico, e não parecem ser um vindo de um país particularmente evoluído. Fiquemo-nos por um jornal com fama de mais ou menos civilizado, mau grado as crónicas de Henrique Raposo (de quem, escusado será dizer, aguardamos reacção). Bem entendido que trolls abundam na internet, e de todos os géneros. Mas, na verdade, talvez que o tipo de comentários que se lêem a esta notícia (para mais algo normalmente tão desinteressante como a aprovação de uma lei - who cares, really?) não esteja inteiramente desligado do facto de ser possível uma pessoa sentar-se durante 12+5/6 anos (secundário+licenciatura+mestrado) em salas de aula do sistema de ensino público português sem ouvir muito regularmente expressões como "igualdade de género". Portugal não é herdeiro, e as pessoas não precisam de ser convidadas a reflectir, sobre coisas como por exemplo aquelas que são capturadas impecavelmente neste vídeo escrito por Ricardo Araújo Pereira, no qual talvez caiba uma explicação do tipo de postura intelectual (ou falta dela) de que as nossas atitudes para com questões de igualdade de género são herdeiras. Mas a ignorância traz a felicidade, lá se diz, e nós portugueses apreciamos isso como ninguém. A nossa atracção por esse tipo de postura intelectual é persistente e difícil de explicar, como implícito, diria uma certa casta de perigosos alienados, na aprovação tão tardia de uma lei para sancionar uma prática tão inofensiva como esta.
"Igualdade de género" é uma expressão não tão ouvida como necessário, porque, como sabemos, reflectir sobre esta expressão nunca levou a uma reflexão séria sobre nenhum aspecto vital da estrutura de uma sociedade, da igualdade e liberdade conferida aos seus cidadãos (e toda a gente sabe para além disso que estas coisas não precisam de ser examinadas, é uma questão velha, a ficar cada vez mais ultrapassada). Para mais, Portugal é uma sociedade impecavelmente saudável.
"Piropo", no entanto, essa palavra que designa uma série de expressões que (como não?), toda a mulher se devia sentir honrada de ouvir, é, no entanto, passível de ser ouvida em toda a parte. Ora, por exemplo, se vocês nunca foram uma menina de 12 anos de idade, que no caminho para a escola tivesse de atravessar por um prédio em obras, recomendo-vos a experiência. Mas tem de ser no corpo de uma menina de 11 ou 12 anos, porque se não, não é possível apreciar totalmente o efeito da arte deste grupo de poetas tão negligenciado e agora tão injustamente criminalizado (talvez não fosse tanto o caso de aprovar uma lei para matar a dita arte, mas antes de compilar os melhores ditos, ou talvez que a compilação dos melhores ditos, agora uma vez posta por escrito, tenha levado à morte da arte pela lei, com as tradições orais é sempre difícil de dizer). Mas o piropo permitia à mulher ter acesso a um primeiro inventário para expressões nunca antes ouvidas e isto vai-se perder (como por exemplo "casaco de cuspo" e outras uns furos mais abaixo), proferidas por todo o macho numa escala etária entre os 13 e os 70 (é um país de tanta virilidade). Aos 18 anos olhando as meninas de 11 fazer o mesmo percurso, muitas destas raparigas já mais ou menos conformadas a este aspecto tão rico da nossa cultura, restava-nos desejar a estes espécimes do homo sapiens que tivessem filhas. Aos 22, uma rapariga entende que não. Aos 22 anos, uma rapariga imagina todo o tipo de coisas, por exemplo, pode entender melhor o arrepio de nojo que certas expressões lhe causam (num país a caminhar a passos largos para produzir a geração mais bem preparada que alguma vez teve, há a forte probabilidade de uma rapariga nunca ouvir este tipo de expressões a um namorado, ou de ouvi-las apenas se houver um mútuo consentimento - questão mais ou menos acessória no que envolve mulheres, dirá um certo tipo de poeta), e uma rapariga nessa faixa etária pode imaginar a educação que estes homens tiveram, pode mesmo perguntar-se se o piropo é sintoma de alguma coisa (claro que não, apenas uma brincadeira inocente). E pode imaginar que tipo de educação estes poetas podem perpetuar nos seus filhos e filhas, e só pode mesmo sentir-se agraciada e agradecida por ver-se objecto de um tal destaque, afinal é tudo uma brincadeira, e é isso o que uma rapariguinha, como sublinhado por estes machos lusitanos em caixas de comentários que vão do Expresso ao Correio da Manhã (sem grande distinção entre o que imaginamos ser o tipo de leitor que frequenta ambos os jornais), devia sentir. Esqueçamos a discussão sobre se é lícito um indivíduo ter o direito de decidir modelar noutro o que é uma resposta adequada a determinada situação (o que fazer se não aceitar o tão inofensivo piropo?), ainda que contra a auto-determinação deste. Toda a gente sabe que deste impulso básico só têm saído benesses sociais: todas as que habitam o espectro que vai dos inofensivos miúdos bem comportados até quarenta anos de salazarismo. Evidentemente que isto é um exagero, para mais sobre uma coisa tão inofensiva como o piropo.
Ora, desde tempos imemoriais que o piropo é uma arte assiduamente cultivada, quase uma tradição, que é uma pena perder-se, só para que o mulheredo desse país, de resto acostumado por anos de prática, agora se possa revoltar. Possa, como as rapariguinhas de 11 até às mulheres de 50 sempre imaginaram, fazer alguma coisa sobre isso se se sentir profundamente insultada (violada psicologicamente?, por amor de deus, toda a gente sabe que isso é parte do que especialistas na questão têm designado por "a grande conspiração das mulheres") por determinado tipo de comentário. E num país que não melhora só por si, talvez o hábito de legislar para proteger o seu corpo de cidadãos venha - imagine-se! - a revelar-se um exercício saudável de reflexão para ambos os géneros.
Em tudo o resto, desejo-vos filhas, um mulherio que possa caminhar respeitável e livremente pelas ruas das cidades desse país. Evoé, como diriam as Bacantes nos seus delírios, celebremos 2015, em que Portugal parece ter finalmente deixado de ser um país do século XIV, entre outras coisas porque esta lei permite que práticas de assédio sexual, apenas abrangidas pelo código do trabalho, estejam agora também abrangidas pelo código penal. Em Portugal, o assédio sexual não era entendido como um crime de prisão? Porquê? Porque não há evidentemente nada de traumático em uma menina de 15 anos ver-se perseguida por um simpático senhor com idade para ser avô dela, que apenas deseja informá-la que lhe comia a cona toda. Só faz bem começar a ouvir isto desde cedo, ainda que de modo não solicitado (não solicitado? como é que ela estava vestida?).
Importa aqui explicar que a lei não visa sancionar o inofensivo piropo, mas antes aquilo que nele e noutro tipo de comportamentos verbais, não apenas exercidos sobre mulheres, possa cair na definição de assédio sexual. Sem dúvida, algures há aí um desses poetas que sentirá falta de declamar as suas poesias para rapariguinhas de 11 anos (não que para mulheres de 30 seja melhor, mas em certas coisas convém ser o mais explícito possível), e que se poderá queixar que num só ano Portugal se tornou num país onde os paneleiros não só se podem casar como ter filhos (vai ser só pedofilia, já se sabe), onde as mulheres podem abortar legalmente, e agora um homem se vê ainda mais diminuído nos seus direitos.
Mas tudo isto nos devia dar uma fezada neste Portugal dos anos de crise, jardim à beira mar plantado, a tentar caminhar na direcção certa muitas vezes pelos motivos errados (há aí uma porção de gente que diria, havia outros debates mais urgentes), mas que se lixe, rapariguinhas de 11 anos desse país, e o mulheredo ingrato que não aprecia um elogio bem mandado, agradecem-vos, com o sentimento de que a febra finalmente terá a brasa que sempre mereceu, poupando as ditas mulheres de ter de proferir outra expressão que é todo um outro tratado sobre questões de igualdade de género e o modo como elas recaem sobre o sexo oposto, "vão para o caralho, seus grandes filhos da puta". Com esta lei, Portugal dá um passo difícil em direcção a uma não-questão, a igualdade de género. Extremamente improvável para Portugal. Sem dúvida a esta catástrofe não é alheio o facto de se ter atascado a Assembleia da República de mulheredo, mulheres com quem não gostaríamos de casar (embora agora, promulgada a lei que permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo, se quiséssemos, pudéssemos). Mais um assalto bem-vindo aos valores da nossa sociedade. Elena Ferrante escreve no primeiro volume da trilogia napolitana, a propósito de Dido e Eneias, que se o amor é exilado das cidades, a sua boa natureza transforma-se numa má natureza. O amor, escreveu Anne Carson algures, só funciona se houver igualdade. Este não é um passo acessório porque é um passo nessa direcção. E conta sobretudo como um passo que chama a atenção para uma das muitas formas em que esta falta de igualdade se expressa.
Evoé!
Despeço-me com uma elegia norte-americana aos poetas de piropos deste mundo. Para quem possa ter duvidado que estamos a lidar com uma arte cosmopolita.