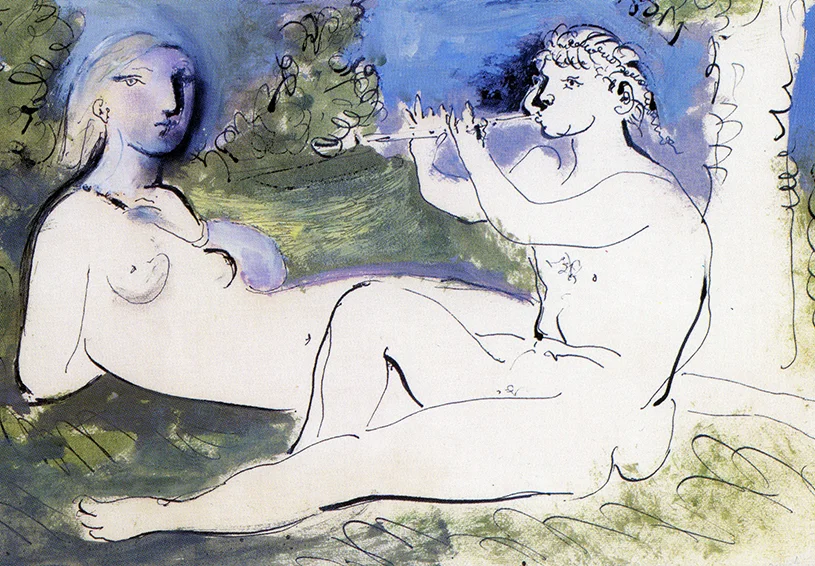"Momento num café" ou "Ninguém merece esses viados"
/___ Ninguém merece esses viados.
___ É verdade.
Nenhum de vocês
merecia Alan Turing,
nenhum de vocês,
merecia Raul Pompeia,
nenhum de vocês
merecia Pier Paolo Pasolini,
nenhum de vocês
merecia Constantino Cavafy,
nenhum de vocês
merecia Gertrude Stein,
nenhum de vocês
merecia Ludwig Wittgenstein,
nenhum de vocês
merecia Xavier Villaurrutia,
nenhum de vocês
merecia Mario Cesariny,
nenhum de vocês
merecia James Baldwin,
nenhum de vocês
merecia Tuulikki Pietilä,
nenhum de vocês
merecia Jack Spicer,
nenhum de vocês
merecia Djuna Barnes,
nenhum de vocês
merecia Lota Macedo Soares,
nenhum de vocês
merecia Bernard-Marie Koltès,
nenhum de vocês
merecia Félix González-Torres,
nenhum de vocês
merecia Berenice Abbott,
nenhum de vocês
merecia Elizabeth Bishop,
nenhum de vocês
merecia Mark Morrisroe,
nenhum de vocês
merecia Gennady Trifonov,
nenhum de vocês
merecia Lúcio Cardoso,
nenhum de vocês
merecia Virginia Woolf,
nenhum de vocês
merecia Meridel Le Sueur,
nenhum de vocês
merecia Paul Cadmus,
nenhum de vocês
merecia Kathy Acker,
nenhum de vocês
merecia Kenneth Anger,
nenhum de vocês
merecia Roland Barthes,
nenhum de vocês
merecia Noël Coward,
nenhum de vocês
merecia Robert Duncan,
nenhum de vocês
merecia Roberto Piva,
nenhum de vocês
merecia Sylvia Beach,
nenhum de vocês
merecia Safo de Lesbos,
nenhum de vocês
merecia Paul Bowels,
nenhum de vocês
merecia Jane Bowels,
nenhum de vocês
merecia Radclyffe Hall,
nenhum de vocês
merecia Al Berto,
nenhum de vocês
merecia Sarah Kane,
nenhum de vocês
merecia Sir Francis Bacon,
nenhum de vocês
merecia Francis Bacon,
nenhum de vocês
merecia Frank O´Hara,
nenhum de vocês
merecia Umberto Saba,
nenhum de vocês
merecia Derek Jarman,
nenhum de vocês
merecia Maurice Sendak,
nenhum de vocês
merecia Nikolai Gogol,
nenhum de vocês
merecia Karin Boye,
nenhum de vocês
merecia Claude Cahun,
nenhum de vocês
merecia Luis Cernuda,
nenhum de vocês
merecia Marsden Hartley,
nenhum de vocês
merecia Mikhail Kuzmin,
nenhum de vocês
merecia Manuel Puig,
nenhum de vocês
merecia Peter Hujar,
nenhum de vocês
merecia Susan Sontag,
nenhum de vocês
merecia John Cage,
nenhum de vocês
merecia Gerard Reve,
nenhum de vocês
merecia Audre Lorde,
nenhum de vocês
merecia Jasper Johns,
nenhum de vocês
merecia Hubert Fichte,
nenhum de vocês
merecia Adrienne Rich,
nenhum de vocês
merecia Irena Klepfisz,
nenhum de vocês
merecia Oscar Wilde,
nenhum de vocês
merecia Thornton Wilder,
nenhum de vocês
merecia Alexander McQueen,
nenhum de vocês
merecia Federico García Lorca,
nenhum de vocês
merecia Néstor Perlongher,
nenhum de vocês
merecia Lorraine Hansberry,
nenhum de vocês
merecia José Lezama Lima,
nenhum de vocês
merecia Herbert Tobias,
nenhum de vocês
merecia Salvador Novo,
nenhum de vocês
merecia Yevgeny Kharitonov,
nenhum de vocês
merecia Langston Hughes,
nenhum de vocês
merecia Severo Sarduy,
nenhum de vocês
merecia William Burroughs,
nenhum de vocês
merecia José Leonilson,
nenhum de vocês
merecia Tove Jansson,
nenhum de vocês
merecia W. H. Auden,
nenhum de vocês
merecia F. W. Murnau,
nenhum de vocês
merecia Muriel Rukeyser,
nenhum de vocês
merecia Virgilio Piñera,
nenhum de vocês
merecia H.D.,
nenhum de vocês
merecia Copi,
nenhum
merecia vocês,
ninguém
merece esses viados.
Poema originalmente publicado pelo autor no seu blogue, Rocirda Demencock, a 20 de Setembro de 2013.