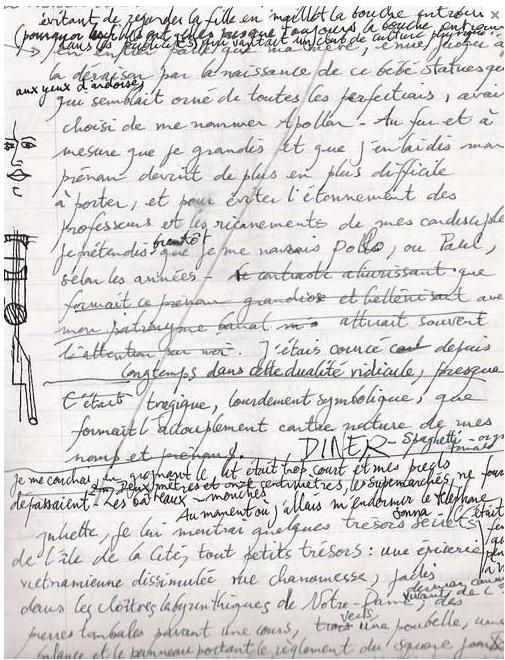Gajos Porreiros
/Muitas pessoas que conheço, no género adequado a esta circunstância, são gajos porreiros. Sem grande esforço, dizendo-o (foi isto que impôs o Linguistic Turn da segunda metade do xx) e parecendo-o (é impossível parecer um gajo porreiro e não o ser, uma autêntica revolução ontológica e moral).
Numa época enredada em profundas dúvidas, com uma probabilidade elevada de passarmos os últimos 10 anos de vida a babar-nos e a tomar um cocktail de moléculas medicinais, óptimo para o aumento da esperança de vida sem qualquer esperança de felicidade, nada melhor do que uma epidemia de gajos porreiros. Massificação de pessoas sem arestas, deslizando irresistivelmente entre posições controversas, submissas, cheias, até rebentar, de senso comum, assoberbadas de inteligência circunstancial (resumida nos “cada um é que sabe de si” e “em Roma sê romano”), vagamente humanistas, vagamente ecologistas, vagamente de direita ou de esquerda, com gostos concêntricos, sorriso fácil, “amigas do seu amigo”, especialistas no dois-em-um da palmadinha/facadinha nas costas, prontas para a cervejinha e blindadas a qualquer erudição que não se verta imediatamente no mundinho onde vivem... Embora a esta capacidade de se moldar, qual gelatina humana, não corresponda um bom relativismo. Paradoxalmente, os gajos porreiros desenham um mundo aperspectívico, têm convicções duras, por detrás da tolerância de fachada, vivem fechados nos seus pontos de vista, que consideram, na estreiteza do horizonte de expectativas individualista, os melhores do mundo.
Dir-me-ão, assim “como quem não quer a coisa”, que apesar de tudo tiveram a força demiúrgica para se criariam a si próprios. Pois bem, pura mentira, é impossível um gajo porreiro ter tido a força e a destreza decisórias de se fazer a si mesmo. Eles, todos, são produto dos meios de comunicação de massa modernos e pós-modernos (os primeiros acreditavam no Progresso, substituto de Deus; os segundos viraram-se para a polifonia discursiva, o conflito de interpretações, a fragmentação das perspectivas, numa palavra valorativa: caíram no raio-de-mundo-patchwork), do Facebook à televisão, dos jornais aos blogs, da rádio ao Spotify..., os média reorganizaram a “realidade como realidade na nossa cabeça”, isto é, definiram as linhas de realidade que pode ser observada, sem risadas ou dúvidas sistemáticas, como real, depois puseram isso na nossa cabecinha para modelar e fazer emergir o gajo porreiro que há em nós (Foucault falava do nazi que se esconde em cada íntimo).
Por isso, os porreiraços apenas precisam de parecer, parecer que toleram, trabalham, ajudam, compreendem, amam, agem, combatem... para o ser. Talvez a grande novidade na ontologia do porreirismo seja a de que a representação (estar no “lugar de” e “fingir que”) é o ser. O “Mascara-te de porreiro, diz que és porreiro e serás porreiro!” tornar-se-á o princípio de doutrinamento ao porreirismo dos escassos resistentes. Onde toda a cultura acima do “imediatamente agradável” se reduzirá a pó; as controvérsias serão aplanadas em consensos claros e simples, bons para todos os contendores; os discursos revolucionários baixarão o tom e serão reciclados para as Marchas Populares; a angústia da influência dará lugar a milhares de Reforços Positivos derramados sobre todos os que se aventurem, por exemplo, na escrita de um best seller; e quando se pisarem algumas normas, bastará uma pequena multa e algumas palmadas no rabo; a entreajuda, no amor e na crítica, parecerá tão autêntica que ninguém terá a coragem de a questionar; mas acima de tudo, todos recitarão o credo no homem porreiro (substituto, até ao certo ponto, do Übermensch), uma lengalenga sem referente, tanto mais que, como nos ensinou o mestre supremo da ironia Oscar Wilde (que reprovaria no exame para gajo porreiro): “Quem diz a verdade, mais cedo ou mais tarde, é apanhado em flagrante.” E quem quer ser apanhado em flagrante, ah, quem quer?