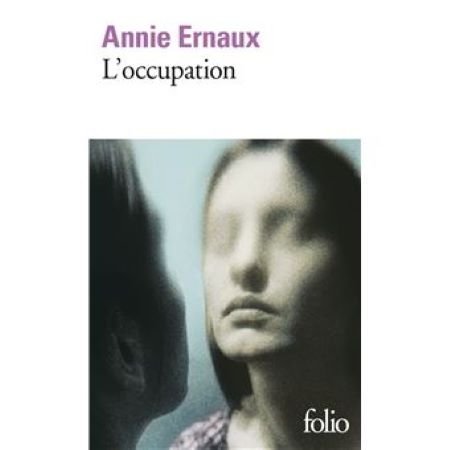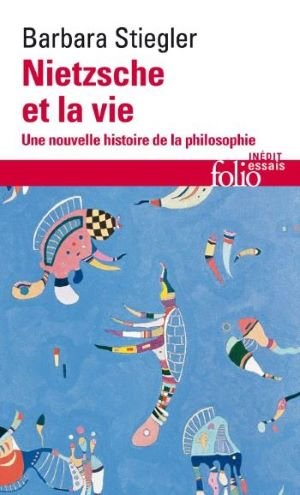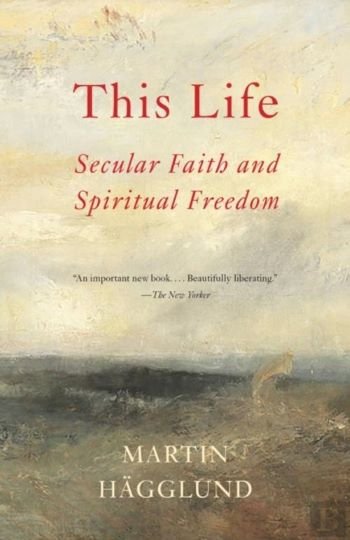Poesia Portuguesa Contemporânea e Um País Em Bicos dos Pés
/Devemos alegrar-nos, talvez como acontecia nos festivais dionisíacos (ainda sem pulseiras). Saltar por cima desta tristeza que aprendeu a insinuar-se até na garrafa de vinho mais premiada de Robert Parker. É que é muito raro testemunhar a edição de dois livros com a beleza e a importância dos que aqui trago em jeito de nota de leitura (ainda incompleta). Merecem, com certeza, receções críticas mais longas, profundas e, talvez, aborrecidas (sem desprimor, o insípido é uma categoria ambivalente). Espero que outros as façam, eu não tenho o vigor necessário (nem as competências dos hermeneutas canonizados), cabe-me, todos os dias, como Kant, cumprir a circunstância de tarefeiro do Estado, multifuncional e alienado, paradigma da compulsão para um gasto delirante e inútil de tempo. Noutra vida serei outra coisa (Rimbaud diferido), não sei bem o quê, espero apenas deixar menos livros por ler e não adiar conversas com quem (ou o quê, agora temos o ChatGPT) consegue apontar alguns ângulos mortos ao meu olhar.
Quer Joaquim Manuel Magalhães, quer Diogo Ramada Curto fazem crítica cultural, isto é, numa caracterização muito pessoal, analisam e avaliam o que, e como, autores na arena das artes expressaram em obras que vão da poesia ao romance, passando pelo ensaio, artes plásticas e documentos epistolares (as cartas assassinas são maravilhosas). O que disseram (análise), como o disseram (análise), com que intenção (avaliação) e repercussão (avaliação).
Tal é relevante porque acrescenta inteligibilidade aos autores e às obras, mas também porque nos coloca a par do olhar que nos últimos cerca de 150 anos os artistas, em grande medida fenomenólogos visionários, lançaram sobre a viabilidade da arte que praticavam e a distância entre expectativas de receção e o acolhimento de facto pelos seus pares (sobretudo Joaquim Manuel Magalhães) e por um país menor, menorizado, automenorizado, que prefere consumir a sua inteligência a fabricar o enquadramento mítico, vibrante mas impreciso, de destinos heróicos ou lamentar-se de uma pequenez autoinfligida em vez de resolver os problemas reais que impedem um povo e uma cultura de se realizar (sobretudo Diogo Ramada Curto). Os milhares de enunciações performativas, à maneira de John Austin, que lançaram sobre o tempo e o espaço que escolheram recortar da totalidade do universo (numa suprema bazófia, em Os Maias Ega queria contar, literalmente, uma história universal) permite esboçar retratos do humano, da linguagem e da cultura, sobretudo os que compõem aquilo a que chamamos Portugal.
Só um país culturalmente indigente pode desvalorizar, sem qualquer estratégia para lá da pequena maledicência ou de um maniqueísmo estético que aposta tudo na criação e nada na receção, a crítica em geral. Neste caso, a crítica de Joaquim Manuel Magalhães e Diogo Ramada Curto — que é também criação literária, nem tenho qualquer dúvida — permite apoderarmo-nos de sentidos originários de tempos, ações e contextos que sem eles seriam ou significados não reclamados ou significados perspetivados de forma mais redutora. Se é verdade que não há emancipação pura, que em todas as formas de libertação se insinua a alienação, também não deixa de ser uma certeza que a leitura destas obras tornará a cultura portuguesa mais ampla e complexa, mesmo que à custa de se acrescentar saber sobre a sua mesquinhez.
Na Poesia Portuguesa Contemporânea, Joaquim Manuel Magalhães reune, em cerca de 1100 páginas, tudo o que escreveu sobre poesia portuguesa até 2007 (quando percebeu «que nada mais [lhe] apetecia escrever sobre o assunto»). Publicou em revistas, jornais e livros que compuseram obras já editadas: Os Dois Crepúsculos, A Regra do Jogo, 1981; Um Pouco de Morte, Presença, 1989; Rima Pobre, Presença, 1999. A pequena exceção de alguns textos inéditos das décadas de 80 e 90 não altera significativamente a ontologia da repetição, talvez com o sentido, ainda que heterodoxo, de antologia. A decisão de não-escrita podia ter sido interrompida, diz o autor, pela qualidade de três poetas que muito aprecia: Frederico Pedreira, Sebastião Belfort Cerqueira e Marcos Foz. Também a obra coletiva Alcazar (2022) quase o tirava do sossego acrítico. Mas, enfim, no livro estão reunidos os poetas que JMM mais admirou e, nalguns casos, odiou, faltando apenas, na admiração, Fernando Guerreiro, por incoincidência entre as publicações deste e a crítica daquele.
O trabalho crítico de JMM, fazendo autoridade, não é uma visão pura, desinteressada e omnisciente sobre a produção literária, sobretudo poética, portuguesa contemporânea. Devemos levar a sério o que disse numa entrevista a Hugo Pinto Santos (a quem dedica este livro) para o jornal Público em 2018: «Odiaria ser um totalitário do gosto». Mas creio que é incontornável, até para ajuizarmos contra ele, ler o que escreveu. Por duas razões principais: 1- é um bom sismógrafo poético, identifica as fendas criativas que foram aparecendo na poesia portuguesa, não todas, é verdade, mas muitas das relevantes; 2- tem um olhar certeiro, embora por vezes excessivamente cáustico, sobre o modo de ser, e parecer, português, um jornalista dececionado com os costumes, tanto os da elite académica da Faculdade de Letras de Universidade de Lisboa quanto os das famílias remediadas que ciosas do seu estatuto social se tornaram veraneantes no pós-25 de Abril, passando, claro, pelos jogos de receção (do silêncio à hagiografia) das produções poéticas (dos quais não se pode eximir). Além disso, constrói códigos de leitura para mais de 50 poetas, e muitas mais obras, que teremos todo o interesse, mutadis mutandis, em reutilizar, reconhecendo que não somos hermeneutas algorítmicos. E, por último, mas não menos importante, é um bom criador de sintagmas, desses que nos salvam o dia e autorizam acreditar no futuro, por exemplo: «mercenários do ideológicos»; «O fôlego incomparável dos que ganham sem correr.»; ou «Os grandes contributos de um poeta residem, quase sempre, mais num pequeno jeito com que ultrapassa a invenção dominante que lhe é anterior do que em longas páginas de conteúdos, latejos e insurreições.»
1200 páginas, Bestiário, c. 40€, mas há livrarias amigas.
O subtítulo de Um País Em Bicos dos Pés é Escritores, Artistas e Movimentos Culturais. Portanto, um livro de crítica estética e de crítica cultural, ou crítica de costumes. De como na criação estética se inventam e consolidam visões do mundo, por vezes mais precisas e importantes do que na produção científica que tem por vocação, sempre relativa e seletiva, descrever as coisas e as ações humanas (sociologia, história, filosofia, psicologia, geografia…). E Diogo Ramada Curto usa o título para nos dar um vislumbre decisivo sobre como as elites culturais portugueses desde Eça de Queiroz, é aí que decide começar a histórias dos bicos de pés, se elevaram (erguer seria um termo desajustado) sem saberem formar um verdadeiro salto, desses que entusiasmam o público porque os vê como trampolim para que o coletivo suba um degrau na escada da civilização. A inspiração veio de Jorge de Sena, que em Estrada Larga, há mais de meio século, dizia que «era necessário que deixássemos de ser um país de “anões em bicos de pés”, para, através do estudo, passarmos a ser “anões com dignidade”. Só então talvez se descobrisse “que não éramos todos anões, afinal”.» (Citei DRC).
A maior parte dos capítulos é composta por textos já publicados, sobretudo em jornais e revistas (principalmente, Expresso, Público e Contacto). Uma compilação, pois. Mas mantém-se um bom equilíbrio entre a atualidade e o poder de ultrapassar o que nela há de acidental, como Foucault pretendeu fazer na sua «ontologia do presente». São oito capítulos: 1- Eça, Batalha, Fialho; 2- Feijó, Laranjeira, Brandão, Marnoco; 3- Amadeo, Botto, Pessoa, Almada, Sarah Affonso; 4- Mulheres escritoras; 5- Intelectuais e artistas do Estado Novo; 6- Resistentes, pessimistas, lutadores; 7- Memorialismo, comemorações, história; 8- Um meio pequeno, a universidade, a cultura popular.
A introdução começa com: «Saber se há ou não uma mediocridade que nos sufoca é o propósito deste livro.» Um mediocridade alimentada pela falta de ousadia de pensamento, o que significa prescindir da liberdade de pensar. «O respeitinho pelo consenso». E isto é desde logo importante para desvelarmos no passado o código genético que marca o presente, mas também porque «através da análise do trabalho intelectual dos outros, encontramos os instrumentos necessários para o exame crítico do que é feito por nós». A crítica como motor da autocrítica. Sobre a metodologia, seguindo esta linha de raciocínio, escreve DRC: «criar distância, ganhando em objectividade, ultrapassando ideias feitas e fugindo a estafadas lógicas de comemoração.»
600 páginas, Almedina, c. de 30€, também aqui há livrarias amigas.