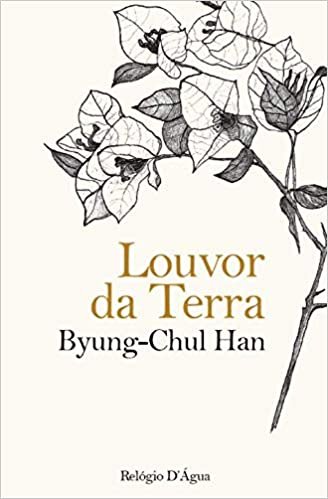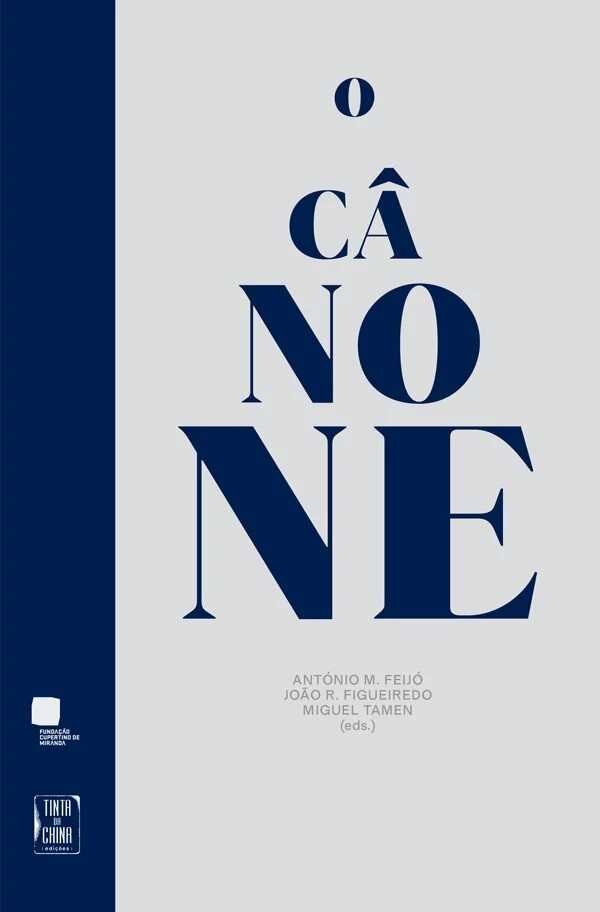Victor Gonçalves, Leituras 2021
/Não é um best of, mas aproxima-se. Dou nota aqui dos livros que mais me marcaram neste ano, os que me fizeram desviar do caminho traçado, previsível, trazendo iluminações ou obscuridades (inocular os nossos frágeis desejos de ceticismo é de uma relevância inquestionável), compondo pequenos fragmentos de sentido e sem-sentido. São livros, essas coisas cada vez mais raras, apesar de nunca se ter publicado tanto. Faltam leitores, faltarão sempre, como faltam boas pessoas. É a vida.
François Noudelmann, Un tout autre Sartre, compõe para a Gallimard uma biografia de Jean-Paul Sartre, que contou com a cumplicidade da «filha adotiva» do escritor de L’Être et le néant, Arlette Elkaïm, falecida há pouco. Um «outro Sartre» compõe parcelas encobertas do «intelectual total» que se quis campeão da transparência, que «incessantemente comentou o seu percurso intelectual e o incarnou num modo de existência». Em articulação com o Sartre visível, Noudelmann mostra-nos o prazer de Sartre pela música (tocava piano), por férias hedonistas, pelo dolce far niente; um Sarte que desdenha o Sartre comprometido (engagé), preferindo a leveza das conversas banais, das viagens de lazer, das pantomimas ao piano. No final, prova-o a vastidão e profundidade da sua obra, venceu o Sartre engagé, mas aquele com quem gostaríamos de ir tomar um café não foi um epifenómeno, teve suficiente importância para, a par das anfetaminas e do álcool, equilibrar os campos de luz-sombra de uma vida incrivelmente exigente.
Os Factos, Autobiografia de um Romancista, de Philip Roth, é um livro para quem o costuma ler, não porque encontre nele revelações que decifrem melhor a sua ficção, mas porque a prologam, embora noutros termos. Chamar-lhe «Factos» é um exercício de ironia à la Roth. Devemos, pois, lê-lo como mais uma história, que no final é até criticada pelo seu famoso alter ego Zuckerman.
Livro no qual Vergílio julga encontrar muitos traços da sua subjetividade. O lugar central é uma aldeia que, depois da pujança vital temporária trazida pelas minas e pela «tecnificação», vai desaparecendo, morrendo, em paroxismo há até personagens que nem sequer chegam a entrar em cena, pré-mortas (como um filho que se espera em vão). Um livro feminista que ensina o ser-para-a-morte. Um elogio ao indizível, também, posto que é fundamental para a vida e a ficção. Uma aldeia, vento, neve, montanhas, pinheiros queimados na lareira, pobreza (de todo o tipo) e a energia elétrica que não substitui a falha geral que conduz ao cansaço e à morte, espiritual antes da física.
Uma história de vida e morte, de sentido e sem-sentido, de amor e ódio. Uma história na qual um professor de Liceu, em Évora, percebe que o feminino é maior do que ele. Em que percebe, também, que as suas ideias são estéreis, ou criam ervas daninhas. Uma cidade na qual «é um milagre criares relações», um Alentejo comido pelo sol, um professor dominado pela situação julgando, ingenuamente, que a palavra justa, o gesto justo, a ideia justa podem salvar o mundo. Há neste livro um pouco de Manhã Submersa e a antecipação de Alegria Breve.
Um ensaio que serve de introdução (longa, 200 pp) ao pequeno texto de Jean-Paul Sartre O Existencialismo é um Humanismo (1945, que Vergílio traduz). Uma forma de entrarmos no pensamento sartriano, começando pela fenomenologia e passando pelo «existencialismo» heideggeriano. Mas é também uma obra que expõe o Vergílio filósofo, ou melhor, aprendiz de filósofo.
Um livro diferente e surpreendente de Han. Acompanha os principais momentos de uma viagem por três primaveras, verões, outonos e invernos, nos quais trabalhou num jardim. Misturando teologia e estética, refere que «O belo tem de ser tratado cuidadosamente. É uma tarefa urgente, uma obrigação da humanidade, tratar com cuidado a terra, porque a terra é bela e, mais ainda, esplendorosa.» E isto é tanto mais premente quanto «Perdemos por completo a veneração da terra.» Esse trabalho, do corpo e do coração, deu-lhe o acesso ao amor: «Não tenho filhos, mas com o jardim vou aprendendo lentamente o que significa oferecer assistência, ter preocupação com os outros. O jardim tornou-se um lugar de amor.»
Cerca de 30 críticos escrevem sobre cerca de 40 autores e uma dúzia de temas. O mais recorrente versa sobre o sentido do «cânone», são quatro artigos (António M. Feijó, Anna M. Kloblucka, João R. Figueiredo e Miguel Tamen) que nos dão a pensar acerca da construção de um espaço dos eleitos. O cuidado gráfico, a revisão esmerada e, sobretudo, a qualidade dos textos tornam este livro obrigatório. À sua escrita presidiu o seguinte horizonte (de vontade e sentido): «Não é boa ideia lê-lo como um guia neutro para a história da literatura portuguesa, ou como uma comemoração política das suas maravilhas. Este não é um livro sobre o esplendor de Portugal, é um livro de crítica literária.»
Publicado em 1964, o ano em que Sartre recusa receber o prémio Nobel da Literatura. O livro que o resgata do relativo fracasso de Les Chemins de la liberté, conta-se, de modo relativamente autobiográfico (este olhar para o passado é paradoxal com a importância do prospetivo), até aos 12 anos, explicando-se mais do que descrevendo-se. Trata-se de tentar perceber como surgiu, foi surgindo, a vocação de escritor. Mas também de lançar um olhar implacável sobre as distorções morais com que percorreu a sua infância. Quando apareceu, o livro teve talvez as melhores críticas de tudo o que escreveu Sartre. Gabaram-lhe o estilo (breve, incisivo, musculado, ácido, perscrutador), a concretização da sua psicanálise existencial, a inventividade lírica, a recuperação da ideia de genealogia da moral.
Criança frágil e feia, mas intelectualmente precoce, órfão de pai, posto de parte pelos seus colegas de escola, mimado por uma mãe e um avô que o veneram como um dom celeste, conforma-se ao gosto dos grandes, porque gosta de elogios e aplausos. Foi nesse meio que, falsificando amiúde a virtude (retrata-se muitas vezes como um impostor), nasceu o escritor incansável que foi Sartre. É por isso que no final de Les mots escreve: «faço, farei livros; são necessários; isso serve para alguma coisa. A cultura não salva nada nem ninguém, ela nada justifica. Mas é um produto do homem: projeta-se e reconhece-se nela; somente este espelho crítico lhe oferece a sua imagem.»
Cumpre-me ler pelo menos um comentário grande a Nietzsche todos os anos. Desta feita, escolhi Pierre-André Taguieff, seduzido pelo subtítulo: «Por, com e contra Nietzsche». É que sob o nome de «Nietzsche» encontramos de tudo, desde o início do séc. XX foi sucessivamente escrutado, glosado, reinventado, treslido, adulado, detestado, celebrado, vilipendiado… E tantas vezes usado para causas que nunca foram as suas. Esta obra apresenta-se, assim, como um panorama criterioso das interpretações políticas e ideológicas de Nietzsche. Ao mesmo tempo que reflete sobre as múltiplas contradições internas à obra, bem como as suas ambiguidades e a extrema singularidade do autor. Pierre-André percorre o grande bazar dos nietzschianos e anti-nietzschianos, de Paul Valéry a Peter Sloterdijk, de Thomas Mann a Albert Camus, de Stefan Zweig a Michel Foucault, de Gorki a Althusser, Deleuze, Rosset… Pega também nos bolcheviques e na nova direita, nos fascistas italianos e no Maio 68, evocando intelectuais, políticos e universitários.
Vaca Preta (Bestiário/Snob, 2021) é um livro marcante de um cérebro metido num corpo há cerca de 27 anos (a idade é outra coisa). Claro que se foi rodeando de mundo, aposto que um mundo todo ele traduzível, ainda que imperfeitamente, em palavras, mas há uma irrecusável, irreprimível singularidade nas sinapses de Marcos Foz, uma fábrica de pensamentos que roça a loucura do adivinho sóbrio, esse que destapa as pulsões linguísticas que se escondem por trás dos discursos compostos pelos costumes e pela lógica. Mais tarde, ver-se-á que nenhuma verdade adâmica virá ao de cima, mas perceber-se-á o desconforto com que habitamos o mundo, traídos por uma pureza que estava ao nosso alcance e que nos abandonou porque nos fez conversar sobre banalidades vitais.
Entre a poesia e a prosa, o ensaio e a ficção, o referencial e o autorreferencial, Vaca Preta é um palimpsesto enorme e anormalmente complexo (a normalidade prefere quase sempre o liso). Mistura sons, imagens e palavras, estica os sentidos até ao limite do absurdo (que ainda é sentido, mas paralelo). Gosta de representar o nada, ou melhor, a nadificação, despojos de uma desarticulação precisa do racional. Percorre o corpo e a mente humanas, o corpo e a mente sociais com a liberdade da criança de Assim Falava Zaratustra. Esculpe tabus até fazer deles setas suicidas, um patchwork sobre a forma como nos fazemos à vida, inexperientes criaturas sobrealienadas. O narrador, F e Z compõem um fragmento de mundo observando a humanidade enquanto questionam, subtilmente, a exatidão do olhar que lançam sobre os outros e sobre si. Há sempre ângulos mortos, mas poucos os amam.
Tudo isto perfaz uma espécie de surrealismo pós-moderno (parece um pleonasmo, mas não é), tudo, ou quase, são linhas de fuga, versões do real, ou melhor, dos vários reais, uma imensa liberdade de composição, para lá do sentido tradicional que se outorga aos textos, à posição do autor e dos leitores. E se alguma crítica política (no sentido largo) há, está na obsessão com que continuamos a sonhar (que não faz pular nem avançar, é mais do campo dos narcóticos), por que raio embrulhamos o sem-sentido com peripécias que nos fazem crer na nossa boa consciência? Por que raio nos socorremos da imaginação (menos livre do que se julga) para saltar por cima da porcaria das ações humanas (que na grande maioria desembocam em lixo e comida barata)?
Escreve Marcos Foz (?) sobre o cardápio dos que não aguentam, não se aguentam, e pulam e julgam avançar: «Há quem reaja a esta promessa de mundo sem tecto escrevendo um romance de oitocentas páginas enquanto pontapeia a mãe subsidiária, há os que vão viajar pelo oriente, entre fotografias e haikus, há os que fazem voluntariado na Guiné, há os que organizam manifestações ecológicas, há os que arquitectam tratados para a nova religião que despontará com o despertar transmecânico, há os que colocam todas as esperanças nos filhos, há os que matam os filhos por piedade, há os que se refugiam no ginásio, há os que levam questionários de inclusão aos bairros problemáticos da periferia, há os que gostavam que isto andasse dois passos para trás, há os que investigam até onde podem ir no sadomasoquismo e os seus quinhentos utensílios.» (pp. 40-41)
Além disso, a edição é magnífica.