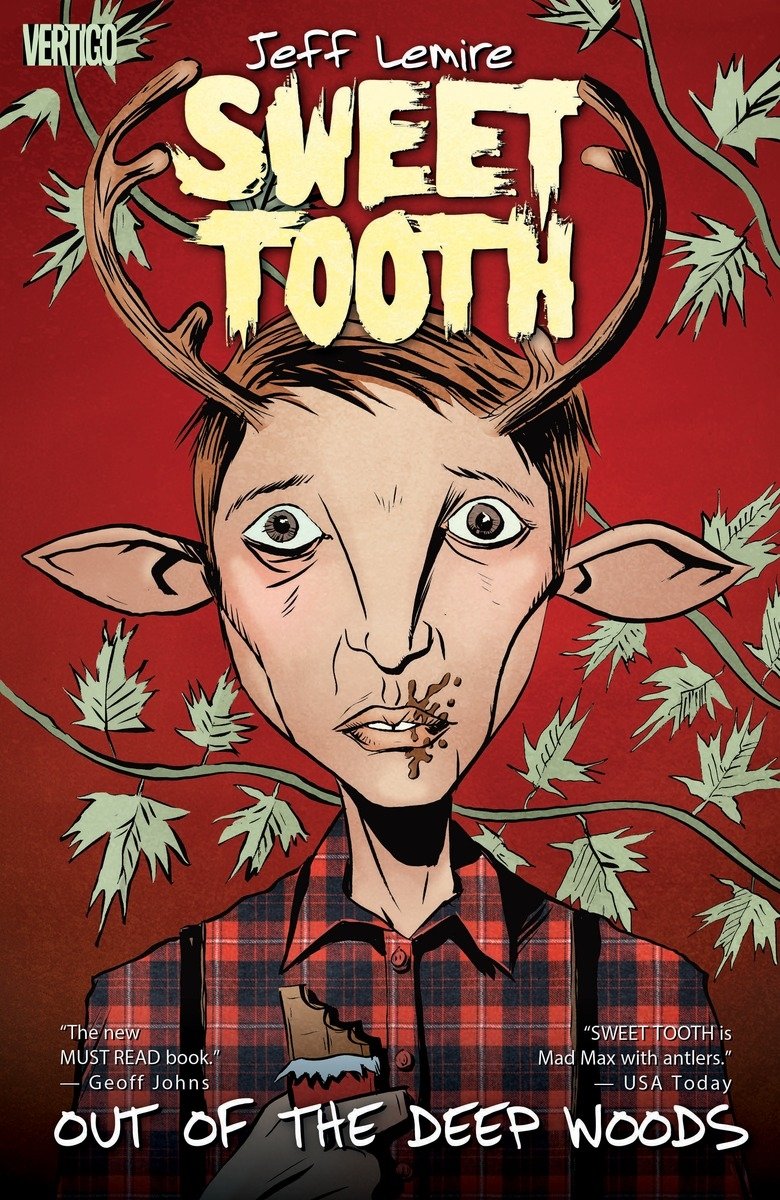Cold War é o mais recente filme de Pawel Pawlikowksi, realizador polaco, que cresceu no exílio em Inglaterra e na Alemanha, Creative Fellow em Oxford Brookes entre 2004 e 2007. Regressado à Polónia pouco depois da morte da esposa em 2006, Pawlikowski acabou por se reeinventar um pouco como realizador depois deste trauma. A mãe do cineasta era bailarina e o pai médico, Pawlikowski tem ascendência judaica do lado paterno – uma avó que morreu no Holocausto. O início da sua carreira inclui uma série de documentários com qualidades vagamente surreais, filmes sobre errância e viagens e gente em trânsito. É possível que o modo como os fantasmas da história se cruzam no percurso do próprio Pawlikowski, a avó perecida em Auschwitz, o exílio da Polónia comunista, e a sua prática enquanto realizador de documentários expliquem alguma coisa acerca do modo como a história e o percurso das personagens nos seus filmes se desenrolam. Ida olha de perto as feridas deixadas em aberto pelo Holocausto na Polónia, ao mesmo tempo que é um estudo sobre o percurso de uma jovem mulher educada para se fechar do mundo. O modo como Ida se cruza com um músico de jazz na sua busca pelas suas próprias origens continuará para sempre a existir no meu bloco de notas como uma das melhores metáforas acerca do modo como o mundo tem as suas formas de nos encontrar e de nos agarrar por um braço e nos fazer girar, mesmo se no fim quisermos resolver que o que resulta para nós é fecharmo-nos num convento. Ida é o primeiro filme polaco a alguma vez ter vencido o Oscar para melhor filme estrangeiro.
Pawilokwski dedica Cold War aos pais, que o realizador descreve como “the most interesting dramatic characters I’ve ever come across … both strong, wonderful people, but as a couple a never-ending disaster”. Talvez porque Pawlikowski esteja interessado em conversar tanto com os fantasmas do cinema como com os da história, Ida e Cold War são filmados a preto e branco. Pawlikowski, cuja formação inicial é em filosofia e literatura alemã, está interessado em questões de identidade em momentos de crise. Pode-se dizer que Ida e Cold War são filmes acerca das formas como as pessoas descobrem quem são em momentos de profunda disrupção: histórical, emocional, política, geográfica, cultural... E o que elas são, tanto nos sugere qualquer um dos dois filmes, é algo mais profundo, íntimo, violento, belo e amável do que aquilo que a pressão de movimentos colectivos, que agem contra a memória e contra a individualidade, pode fazer para os normalizar, diluir ou censurar através de rituais e rotinas opressivas. Neste sentido, estes dois filmes de Pawlikowski são sobre a integridade humana. Cold War é uma história de amor abrupta, entre um pianista e uma cantora que se conhecem quando o pianista, Wiktor, é encarregado de instituir um colégio de música e artes performativas na Polónia, para conservar as artes folclóricas do país. O professor passa a intelectual perseguido e no exílio, em Berlim e Paris, e a aluna, Zula, segue-o e abandona-o e torna a procurá-lo. Num dos primeiros diálogos entre as duas personagens Wiktor alude ao rumor de que Zula teria assassinado o próprio pai e pergunta-lhe porquê. Ela responde algo como: “uma noite ele confundiu-me com a minha mãe, eu esfaqueei-o para o recordar da diferença, mas não te preocupes: não o matei.” Noutra cena, Wiktor regressa ao apartamento em Paris depois de se encontrar com Zula, depois da primeira separação entre eles. A namorada da altura pergunta-lhe se ele tinha ido gastar dinheiro com prostitutas. Ele responde que não, que não tinha dinheiro para isso, que tinha ido encontrar-se antes com o amor da sua vida. Cold War dramatiza na trajectória de Wiktor e Zula a questão da dissolução de identidade que é, mais do que a de um intelectual no exílio, de alguém, qualquer um, que tem de viver fora do seu país. Um encontro com um burocrata na embaixada da Polónia em França resume o dilema e o terror deste estatuto em poucas linhas, quando o burocrata se vira para a câmara e diz, à personagem de Wiktor, algo como, o senhor não é polaco nem francês.
As críticas chamam a Cold War um filme épico, mas Cold War é um filme épico numa escala muito contida, a magnitude da sua escala épica tem a ver com o fundo histórico, que é capturado em pequenos detalhes, que é a de ser um retrato da vida privada de dois artistas que pela sua profissão estão mais expostos a um olhar público e a serem vigiados pelo poder num regime opressivo. Na sua essência, no entanto, Cold War é antes de mais o retrato de dois amantes que tentam a todo o custo encontrar uma forma de permanecer juntos, e nem a opressão da Polónia comunista nem a satisfação que pode advir de se ser um artista vagamente bem sucedido e em paz no exílio parecem poder obliterar esse absoluto, sob pena de as personagens deixarem de ser quem são, de a vida deixar de valer a pena. De alguma forma, podemos tentar dizer muitas vezes a nós próprios que prudência e uma moderação indiferente nos podem deixar viver satisfactoriamente em qualquer cenário. A integridade, no entanto, a nossa acerca das coisas e pessoas que amamos, no fundo as coisas e as pessoas que mexem connosco e geram as marcas que moldam as histórias das nossas vidas, é um pouco mais difícil: exige a paixão cega das nossas convicções. A beleza dos filmes de Pawlikowski tem qualquer coisa que ver com isto. É por isso que esperamos com ansiedade os próximos.