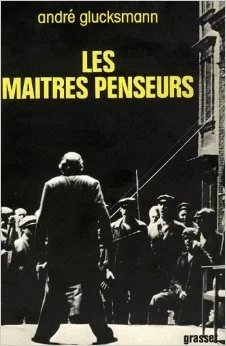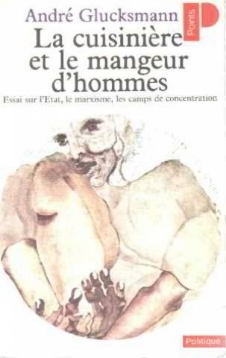Não há qualquer plano de progressão infinita, só há transformações, que podem ser, de acordo com o ângulo interpretativo, melhores ou piores. Nesta questão, hermenêutica mais do que ontológica (o que “significa” em vez do que “é”), coabitam duas grandes linhas de sentido: declínio (uma tradição de pessimistas, dos cínicos gregos a Oswald Spengler, passando por Voltaire e Schopenhauer) e elevação (quase sem filósofos, talvez só Leibniz, mas com muitos economistas e gestores). Estas inclinações hermenêuticas, desde logo inscritas numa terminologia ambígua, dependem da época, do Zeitgeist, mas também do equilíbrio de forças projectadas pela nossa condição bipolar, somos seres fendidos entre o optimismo e o pessimismo, e quando encontramos alguém onde predomina claramente um dos pólos, pomo-lo rapidamente no índex da anormalidade.
Não havendo qualquer objectividade na ideia, ou sentimento, de progresso, sendo infrutífero, seguindo Karl Popper, procurar falsificar a sua possibilidade ou impossibilidade, emerge dessa ambiguidade a hipótese de nos acantonarmos, em modo quase-religioso, nas seitas dos conservadores ou dos progressistas. As designações assentam, nos dois casos, em termos que funcionam simultaneamente como substantivos e adjectivos: designar-se “progressista” remete para crenças optimistas; enquanto que os “conservadores” preferem as pessimistas (“realistas”, dizem alguns, eufemizando), identificados com a expressão: “para pior, já basta assim”.
A oposição que cultivam, como se só pudessem existir no equilíbrio improvável da contradição, tem uma fronteira relativamente clara, mas o caos semiótico, ou pelo menos a amálgama conceptual, reina em cada um dos lados. Neles acampam a diversidade política, a confusão estética e intelectual, as antinomias morais, a pluralidade existencial... Separa-os apenas um ecossistema de crenças, muitas vezes vagas, que oscilam, numa linha imaginária, entre o declínio e a elevação. Mas também isto é bem mais uma questão de discurso (dizia-me alguém que não escrevia textos alegres porque não tinha a gramática adequada) do que de análise de factores que pudessem confirmar ou infirmar a tese defendida.
A solução, que não resolve o problema (os verdadeiros problemas resistem sempre às soluções), passa talvez por Nietzsche. No Anticristo (ou Anticristão), §4, escreve que a humanidade não resulta de uma evolução contínua, que o progresso (Fortschritt) é uma ideia falsa. Posto isto, para ele e para nós, ou nos tornamos uns “enfastiados da vida” ou fazemos da ausência de progresso o estímulo para buscar novos valores vitais. Para isso, seguindo o mesmo autor, devemos combater o “pessimismo romântico”, dos “frustrados” e “vencidos”, com o “pessimismo da força” (Pessimismus der Stärke), um “pessimismo trágico” sem ilusões, feliz com o que acontece, um amor fati para quem reconhece, sem dramatizar, os seus limites e prefere mudar-se a si próprio em vez dos outros.
Por conseguinte, desaparece desta proposta o niilismo ligado ao pessimismo, a descrença no progresso linear, quase teleológico, dos optimista irremediáveis não conduz necessariamente ao nada. É possível rir depois de escorregar numa casca de banana, tanto quanto reconstruir a casa depois de ser varrida por um furacão. Se acharem estas sugestões pouco eloquentes, deixem-me convocar novamente Nietzsche: “[…] buscamos aqueles cuja existência é para nós uma alegria e encorajamo-los, enquanto fugimos dos outros – eis a verdadeira moralidade! […]” (Fragmento Póstumo, 1880, 6[203]) E para isto não é preciso ser-se optimista.
Se as dúvidas não se dissiparem com esta consolação (tipo Deus ex machina), asseguro-vos que o “pensamento positivo”, o optimismo de pacotilha, o entusiasmo ingénuo, a hipertrofia do eu, a embriaguez com álcool ou psicotrópicos gasosos... tudo isso está fora de moda. O psicólogo Yves-Alexandre Thalmann, segundo uma entrevista recente à imprensa francesa, acredita, é verdade, que a forma como pensamos, positiva ou negativamente, influencia os nossos comportamentos. Mas quando a corrente do “pensamento positivo” defende que realizaremos melhor os nossos desejos suprimindo as emoções negativas (medo, cólera, tristeza, angústia...) e esquecendo os obstáculos sociais e físicos, está a iludir-nos. Por um lado, o negativo não se apaga, no máximo será recalcado; por outro lado, os optimistas mobilizam menos energia para a realização dos seus objectivos, justamente porque são... optimistas. Thalmann propõe, assim, que se reintegre o negativo (emoções e ideias) de forma a acolher também uma parte importante da realidade, visto que quem visualiza os objectivos juntamente com os meios para os realizar e os obstáculos a enfrentar, é mais eficiente do que os órfãos do pensamento negativo.
Pessimistas trágicos de todo o mundo, uni-vos!