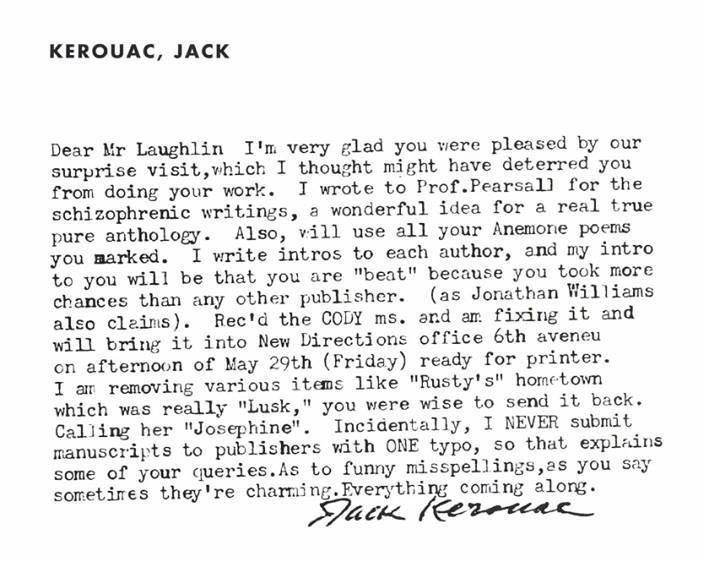Contra o optimismo
/A base do optimismo é simplesmente o terror.
Oscar Wilde
I don't believe illusions 'cos too much is real
The Sex Pistols
§
Leio algures: «As pedras são degraus de outros caminhos...». Nunca fui muito com este género de ideia. Pedras são pedras em qualquer parte. Não acredito que exista alguém que goste de caminhar por um caminho cheio de pedras. Podem ser muito optimistas e mais tarde pensar que são «degraus de outros caminhos...». Mas, enquanto percorrem o caminho, duvido que não pensem: «Ora aqui está uma boa merda.».
§
Não foi necessário ler Cândido de Voltaire para saber que sou pessimista. O optimismo nunca me atraiu. Sempre o considerei sem sal. E vendo bem as coisas é. Por exemplo: a chamada grande literatura é, toda ela, pessimista. Onde é que existe optimismo nos livros de Kafka, Dostoievski, Céline, Mishima, Hemingway, Faulkner, Cossery, Bernhard? Não me lembro. O mundo é irremediavelmente absurdo e está irremediavelmente condenado. E a esperança? A esperança é outra coisa. Talvez um dia fale sobre ela. Mas não associo esperança a optimismo. Um pessimista pode ter esperança. É possível. Só que a esperança não o cega. Por outras palavras: um pessimista é alguém que tem os olhos bem abertos.
§
Os pessimistas são sempre mais criticados do que os optimistas. Se um pessimista chama a atenção para possíveis obstáculos na vida, há logo alguém que exclama: «Ai! És tão pessimista!». Mas o contrário não se verifica. Ninguém diz: «Ai! És tão optimista!». Ou: «Lá vens tu com o teu optimismo!». Os pessimistas são discriminados. São acusados de ver obstáculos em tudo, quando na realidade isso (o facto de ver obstáculos) só traz vantagens: os pessimistas são mais rápidos a desviarem-se deles. Os optimistas não. Tropeçam, caem, lamentam-se, depois vão ler Paulo Coelho e esperam, com isso, aprender a "caminhar".
§
Não acredito que a leitura de Nietzsche ou Schopenhauer tenha influenciado o meu inerente pessimismo. Li-os pela simples razão de estar na moda, de ser aquilo que era esperado de mim. Andar com o Anticristo no bolso de umas calças de ganga rafadas fez milagres junto das raparigas mais susceptíveis. Vestir o preto, também. Mas voltemos ao meu pessimismo. Não sei qual será a sua razão, origem. Sinceramente, não me interessa. Mas sei que é inerente.
§
O meu pessimismo explica-se sem dificuldade: a minha total descrença na bondade humana. É claro que há excepções: conheci, na minha curta vida (trinta e seis anos até ao momento em que escrevo estas linhas), pessoas muito boas, altruístas até à medula (embora ainda não tenha resolvido em mim a questão entre altruísmo e egoísmo, pois considero-os indissociáveis, numa relação simbiótica). O oposto também é verdadeiro: pessoas más não faltam. Conheci umas quantas e suplantam, sem dúvida, as boas. Exemplo: éramos crianças e jogávamos à bola no parque infantil do bairro. Sempre que uma bola ia parar a um certo e determinado quintal, surgia uma faca — vinda não sei de onde — que a rasgava. Quem é que rasga, destrói, uma bola com a qual crianças brincam? Lá no bairro não havia só essa criatura. Havia uma outra, muito mais cruel, que, para além de rasgar bolas, também cortava as asas às crias dos pássaros que apanhava a fazer ninho nas “suas” árvores e no beiral da “sua” casa. Vi, tudo isso, com os meus próprios olhos.
§
Se tentasse justificar o meu pessimismo, com uma base filosófica, seria incapaz. Ainda não li o suficiente para estabelecer um “programa” — algo que parece ser muito necessário para resolver tais questões e para que os outros nos levem a sério. No entanto, penso que ele, o meu pessimismo, é indissociável da minha precariedade existencial: saber que a vida é um milagre e saber que ela é um absurdo. Viver nesse limbo.
§
Pessimismo pressupõe sofrimento? Há quem acredite que sim. Cioran acreditava que se podia ser pessimista sem sofrimento. Para defender a sua posição, Cioran estabeleceu algumas linhas de pensamento. Uma delas é deveras interessante: com as desilusões criar um sistema. O sistema do pessimista é baseado nisso mesmo: nas suas desilusões. É claro que poderemos contra-argumentar dizendo que para ter desilusões o pessimista teve, em primeiro, que ter ilusões. É um argumento válido, com o qual não concordo. A desilusão é, no pessimista, sempre a priori.
§
O discurso político português (principalmente do Governo e de alguns representantes do Estado) foi invadido pelo optimismo. E isso deixa-me a pensar. Como considero que todo o discurso político é falacioso, considero o optimismo — inerente ao discurso — falacioso. É claro que esta ideia aplica-se, também, a qualquer tipo de optimismo. Pois o optimismo é isso mesmo: uma falácia.
§
Por que razão o pessimismo? Porque o optimismo assim me obriga. O optimismo (que eu atrevo-me a designar de hipócrita) mais não é do que um mecanismo coercivo. O optimismo, nomeadamente aquele patente no discurso político, só serve um propósito: acalmar a massa, submete-la a uma vontade que é, muitas vezes, pouco clara. Todo o discurso optimista é falacioso. Ao contrário do optimista, o pessimista não recusa a realidade tal como ela é. Assim, ser pessimista, escolher o pessimismo, é um acto de resistência.