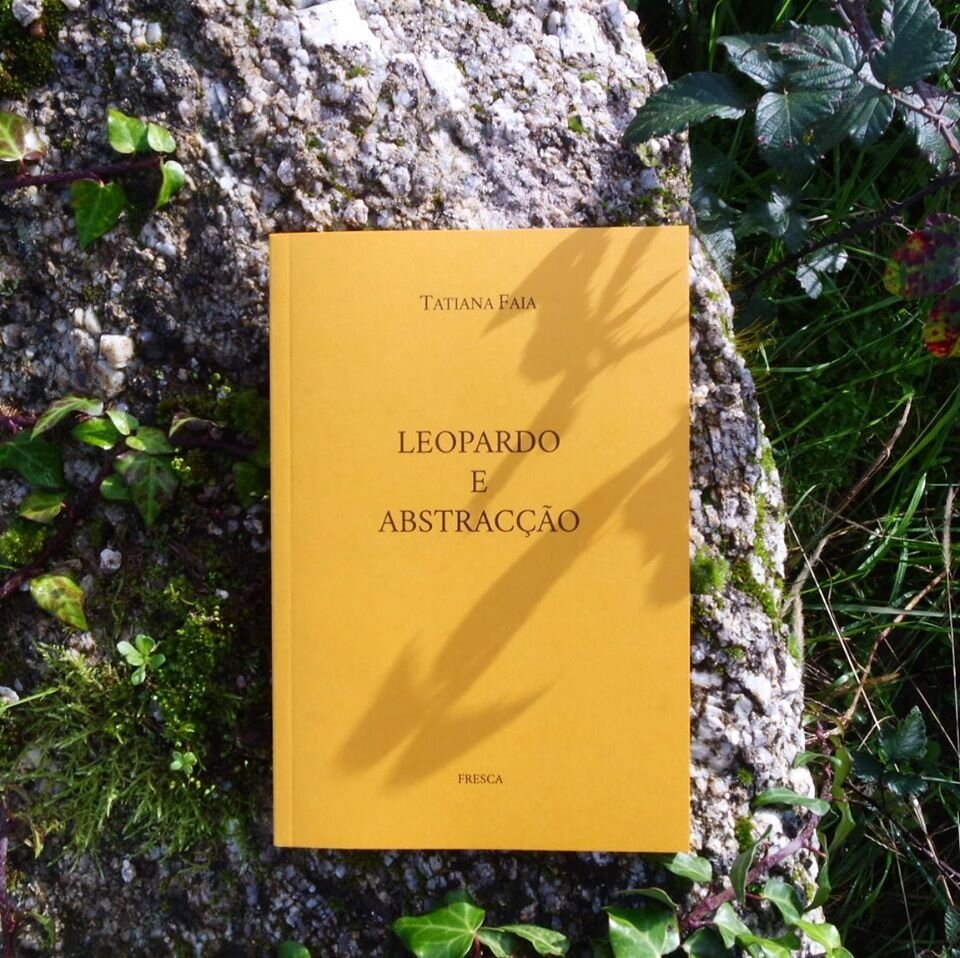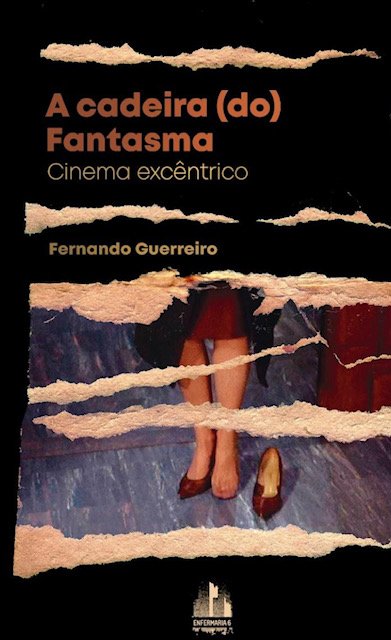O Leopardo é então uma referência menos obviamente importante para Leopardo e Abstracção do que a epígrafe de Hilda Hilst que acompanha o livro e de onde veio o título, mas tenho-me perguntado se qualquer coisa nos poemas se liga muito indirectamente ao romance de Lampedusa. Isto é porque a primeira pessoa a aceitar publicar O Leopardo foi o escritor italiano Giorgio Bassani (1916-2000) na casa editorial Feltrinelli. O romance saiu postumamente, em 1958, um ano depois da morte de Lampedusa, depois de ter sido rejeitado por outras duas grandes casas editoriais italianas, a Einaudi e a Mondadori. Ora, o único poema em Leopardo e Abstracção em que um leopardo aparece passa-se no escritório de uma grande casa editorial, onde as personagens que nele trabalham recebem a tarefa de destruir livros, ou como se diz no jargão técnico, guilhotiná-los. É estranho reparar em retrospectiva que embora a escrita do princípio e do fim desse poema esteja separada por pouco mais de dois anos, o desaparecimento destes livros na primeira parte desse poema liga-se à mutilação, mais famosa, na segunda parte do poema, d’ A Ronda da Noite, que em 1715 foi cortado pelos holandeses para o fazerem transportar para a câmara municipal de Amsterdão. O quadro não cabia na entrada e foi cortado nos quatro lados, o que fez com que duas figuras desaparecessem da composição.
Voltando a O Leopardo de Lampedusa, estudiosos de literatura italiana há muito que se ocupam de comentar a relação entre esse romance e o mais famoso dos romances de Giorgio Bassani, O Jardim dos Finzi-Contini, outro texto que se tornou famoso por causa de um filme. Bassani aparentemente tinha um desprezo absoluto pela versão cinematográfica do seu livro, realizada por Vittorio de Sica. Ambos os livros são frescos de períodos conturbados da história de Itália, ambos falam de decadência e mudanças sociais, no caso de O Leopardo, a decadência dos aristocratas na Sicília no período do risorgimento, no de O Jardim dos Finzi-Contini, o horror que é imposto à comunidade judaica de Ferrara nos anos em que os fascistas promulgam as leis raciais que decretam a segregação dos judeus italianos. Talvez a grande diferença entre O Leopardo e O Jardim dos Finzi-Contini é que em O Jardim tudo o que muda jamais voltará a ficar na mesma, daí a melancolia definitiva das personagens de Bassani. Há qualquer coisa no meu livro de outra melancolia, a que vem da minha percepção do que é potência e energia desperdiçada (há qualquer coisa disso no poema “A segunda mulher do escritor,” por exemplo).
Na altura em que escrevi os poemas que agora compõem Leopardo e Abstracção eu estava muito obcecada, então, não com Lampedusa mas com Giorgio Bassani. Em 2016 a Penguin começou a publicar novas traduções de O Romance de Ferrara pela mão de um amigo meu, o poeta inglês Jamie McKendrick, e eu comecei a reler os livros nessa tradução. Mas parece não haver traço de Bassani no meu livro, mesmo quando falo de uma rua muito importante para ele em Roma, Via delle Botteghe Oscure, de onde a revista homónima tirou o nome e de onde um outro escritor – o francês Patrick Modiano – retirou o título de um romance seu. Às vezes pergunto-me como é que os escritores se contaminam uns aos outros, como é que as minhas conversas com os meus amigos que são escritores ou tradutores passam para os meus poemas, ou quais são as reconfigurações dos meus diálogos com certos livros e certas ideias no que escrevo. Isto importa-me porque sei que muitos dos poemas vêm daí, tal como sei que por vezes essas ligações são oblíquas e inexplicáveis, e que os poemas também não as tornam mais evidentes, tornam-nas presentes de outras formas ou complicam-nas ou tornam-nas noutra coisa. Isso passa-se no Leopardo, por exemplo, quando uma amiga, a Francisca, me deu uma cidade, Berlim, que aparece no poema “primeiro poema de berlim,” outro amigo ajudou-me a escrever outro poema quando me deu a ouvir as “Leçons des ténèbres” do Couperin, que é a música que dá título ao poema homónimo. Isto talvez também explique porque é que os meus poemas são mais inteligentes do que eu alguma vez serei.
Num dos últimos textos de O Cheiro do Feno, o último volume do Romance de Ferrara, Bassani fala do seu método de escrita e diz que sempre escreveu com grande esforço, às vezes dolorosamente, e muito por acaso, por causa de coisas que lhes foram dadas por amigos, não há nele espaço para grandes inspirações.
Por outro lado, sei que o primeiro e o último poema de Leopardo e Abstracção se lêem um ao outro e isso talvez tenha qualquer coisa do tipo de acidente criativo que vem da inspiração. O primeiro poema passa-se num aeroporto e o último numa cozinha, mas queria pensar que, se não são falhanços completos, ambos são sobre o trânsito dos corpos, sobre a extrema necessidade de vez em quando sermos habitados pelas nossas próprias ultrapassagens, de as reconhecermos com um aceno ao mesmo tempo de espanto e familiaridade, se é que isto faz sentido. São também sobre transfigurações, objectos que significam mais do que aquilo que parecem significar.
Diverte-me pensar que depois de muitos anos passados a queimar as pestanas com a história do império romano, talvez o meu grande contributo para a disciplina tenha sido ter conseguido reduzir alguns dos meus muitos problemas com a figura de Gaio Júlio Cesar, um dos últimos ditadores da república romana, à dimensão de um relógio de cozinha em forma de cabeça de gato que é baptizado com o nome do famoso general e que é o objecto que dá o título ao último poema do livro. Isto talvez seja um daqueles falhanços espetaculares, uma falta de educação até, em sentido literal, que, no entanto, acho mesmo que só pode ser ensaiada num poema. Não sei bem o que é que esta retroversão de um dos mais brutais generais de um regime imperialista, de onde em parte saiu a civilização em que vivemos hoje, diz acerca da relação de homens dotados de poderes despóticos com a suposta domesticidade inofensiva de uma cozinha, da nossa relação de um modo mais geral com o lado convencional da violência e dos papéis que nela representamos, dos modos em que somos partes dela ou a recusamos, ou das formas como a partir da reconfiguração dessa violência no mundo dos poemas se possa procurar pensar outras versões do mundo. Então talvez Gaio Julio Cesar seja sobre uma certa habilidade para amar as coisas apesar da violência do mundo, até da violência, que parece simples e banal, da mera passagem do tempo (os minutos de que tentei falar nesse poema são ao mesmo tempo minutos de alívio e perda). Para concluir, em jeito de spoiler, o meu mais recente relógio de cozinha chama-se Marius Julius Cesariny e é uma joaninha. Não sei o que é que vai sair daí.