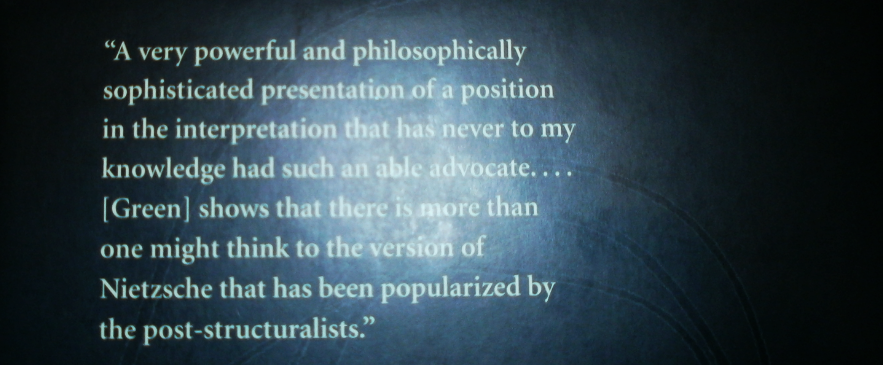Da Tradução do Übermensch de Friedrich Nietzsche
/I
Numa conferência de 1813 sobre a tradução, lida na Real Academia de Berlim a 24 de Julho, (Sobre os Diferentes Métodos de Traduzir), Friedrich Schleiermacher notou que se por um lado "O indivíduo não pode pensar com completa determinação aquilo que estiver fora das fronteiras da sua língua. […] Porém, por outro lado, cada indivíduo que pensa livremente, com autonomia espiritual, está por seu turno a formar a língua.” Portanto, o sentido surge da língua a partir da qual vemos o mundo, para parafrasear livremente Fernando Pessoa, mas ela é o produto dos seus criadores, que assim fazem emergir novos sentidos (mais uma variação do círculo hermenêutico).
Vem isto a propósito da dificuldade em traduzir um termo importante de Nietzsche, presente sobretudo em Assim Falava (ou Falou) Zaratustra: der Übermensch. Mais abaixo demonstrarei por que opto por “sobre-homem”, em vez do tradicional “super-homem”, por enquanto continuo, num escurso que pretende enquadrar o problema, com os labirintos da tradução, acompanhado pela leitura de Dizer Quase a Mesma Coisa, de Umberto Eco. Alexander von Humboldt e Friedrich Schleiermacher foram, no início do século XIX, dos primeiros a afirmar que as traduções podem enriquecer a linguagem de chegada, ao nível do sentido e da expressividade. Para que isso aconteça é preciso dominar a língua de partida e estar acima das potencialidades medianas da língua de chegada, e por vezes sacrificar a transposição literal dos signos para elevar o estilo da língua de tradução. Mas já em 1420, Leonardo Bruni (De interpretatione recta) escrevia que o tradutor “deve fiar-se também no seu ouvido para não estragar o que num texto é exprimido com elegância e sentido de ritmo.” Ou seja, para preservar o nível do ritmo, o tradutor pode dispensar-se de seguir à letra o original.
Esta legitimação do “desvio”, coincide com o argumento etimológico de Umberto Eco: o termo latino “translatio” surge inicialmente com o significado de “transporte”, da passagem de dinheiro de um banco para outro, mas também de enxerto botânico, ou desenvolvimento de um horizonte metafórico. Esta é a razão por que falha o Google Translate, ou outra ferramenta digital de tradução automática. A interpretação por transcrição ou substituição automática, como no alfabeto morse, não funciona. A ausência de decisões interpretativas, sem qualquer recurso a um contexto ou circunstância de enunciação resulta nas situações hilariantes que todos conhecemos. Compreende-se, pois, que Willard Quine, no capítulo “Meaning and translation”, de Word and Object (1960), refira que é difícil estabelecer o significado de uma palavra sem se entender o contexto cultural onde ela se insere. Por exemplo, se um indígena pronunciar “gavagai!” apontando para um coelho que passa à nossa frente, o que quererá ele dizer: o nome daquele coelho, dos coelhos em geral, da erva que se movimentou com a sua passagem ou designar o espaço de tempo da sua passagem? É incontornável, cada língua exprime uma determinada visão do mundo.
Assim, a tradução deve ser sempre acompanhada de interpretação (excepto em trabalhos expresso orientados para o “mercado”), e isso exige tanto uma atenção cuidada ao contexto cultural (lato sensu) onde nasceu a obra, como às palavras que a compõem. Neste sentido, ainda segundo Eco, “uma boa tradução é sempre uma contribuição crítica para a compreensão da obra traduzida. Ela orienta sempre para um certo tipo de leitura da obra”, levando a ver o original sob outras perspectivas. É por isso que, para os autores que convoquei, todo o acto de tradução é desde logo, e ipso facto, interpretação. Hans-Georg Gadamer (1960) repete-o, sublinhando que as traduções são o resultado de interpretações, feitas pelos tradutores na passagem das palavras originais às traduzidas. Esta ideia – a de que é preciso previamente interpretar um texto para o poder traduzir bem– assenta na impossível equivalência linear entre signos de línguas diferentes, embora se deva coincidir na dimensão pragmática, isto é, no sentido que produzem. De forma a que ler a mesma obra em línguas diferentes dê a pensar coisas muito semelhantes. Fala-se então de igualdade de valor de troca. O caso exemplar está em traduzir Homero em prosa, visto que o género épico era na época de Homero o que a prosa narrativa é nos nossos dias.
Para que tudo isto aconteça, e aconteça bem, Umberto Eco – que acompanhou a tradução em várias línguas de muitos dos seus livros, é bom dizê-lo – recorre frequentemente à ideia de negociação. Negociar o significado que a tradução deve exprimir, até porque é isso que fazemos no uso quotidiano da língua. Neste sentido, o processo de tradução prolonga o processo dialógico do dia-a-dia.
II
Na sequência do que acabei de dizer, considero essencial que as traduções de Friedrich Nietzsche estejam envoltas num conhecimento profundo do seu pensamento (multifuncional e vivo), do contexto histórico de onde emerge (prolongando-o e criticando-o) e dos comentadores mais relevantes (que não apenas explicam, mas acrescentam sentidos à sua obra).
No Preâmbulo a Assim Falava Zaratustra (ZA), Friedrich Nietzsche define o sentido principal do termo Übermensch: “Der Übermensch ist der Sinn der Erde. Euer Wille sage: der Übermensch sei der Sinn der Erde!”. Ele torna-se o sentido da Terra (arrisco a maiúscula), o sentido do sentido, visto que nada há para além da Terra, sabendo-se que Deus morreu (outra das ideias fundamentais de ZA). Por isso, ZA será o livro do Übermensch (e do conceito de Eterno Retorno, porque é preciso um novo tempo, cósmico e ético, para esse outro homem), e a opção de tradução ganha uma relevância que não teria noutra circunstância. Vejamos, então, a justificação para a opção de “sobre-homem”.
O “sobre-homem”, ao contrário do Superman, não é uma nova estrutura sobre-pulsional do humano, nem um messianismo hipermoral, é um ser da distância, erigindo possibilidades de vida mais singulares. Daí apresentar-se melhor na figura da “criança” do que na do “leão” de “Von den drei Verwandlungen” (ZA I). O sobre-homem é muito mais um criador do que um destruidor (embora seja através de uma destruição inicial que se instaura o prólogo da liberdade), só a criança, diz Nietzsche, consegue criar valores, porque a sua vontade afirmativa separou-se do que era, podendo agora ser inocência e esquecimento. Ainda que quase no final do cap. “Von der Selbst-Ueberwindung” (ZA II) refira criar dentro do bem e mal implica primeiramente aniquilar valores.[1] Mathieu Kessler distingue-o do superman porque em vez de um poder excepcional, o Übermensch é o homem a quem “falta qualquer coisa”.[2] É esta falta, embora pensada noutros termos, que destaca Jean Granier ao dizer que o prefixo “über” indica que o Übermensch tem o seu fundamento na Selbstüberwindung (auto-superação).
Daí os problemas de tradução que se levantam. Na opção comum em português europeu, Übermensch (Übermenschen, no dativo) é normalmente traduzido por “super-homem” (Obras Escolhidas para a Relógio de D’Água) ou, às vezes, sem um critério suficientemente sólido, por “sobre-humano”[3]. Na minha perspectiva, isto inviabiliza uma adequação mais precisa entre os sentidos nietzscheanos e os da pragmática comum na língua portuguesa. É verdade que quem lê e estuda frequentemente Nietzsche faz um ajustamento ao deslocar o “super-homem” do significado mais literal para sentidos próximos dos do autor, recusando sobretudo as propostas hollywoodescas ou os altares fascistas de herói energizado. O próprio Nietzsche, percebendo os potenciais equívocos do termo, faz em Ecce Homo, “Warum ich so gute Bücher schreibe” §1, uma acusação pedagógica aos leitores, presentes e futuros, de não compreenderem o significado da palavra “Übermensch” na boca de Zaratustra, de a ligarem às teorias darwinistas, aos “cultos de heróis” (Heroen-Cultus) super-humanos.[4] Ainda assim, julgo que se justifica traduzir o termo alemão/nietzscheano por “sobre-homem”. Na condição, todavia, de o “sobre” não denotar simplesmente a elevação quantitativa dentro de uma hierarquia. Com ele quero, à falta de melhor (testei “outro-homem”, mas ficaríamos demasiado distantes da hermenêutica habitual), dar conta do prefixo “über” como movimento para lá da antropologia humanista, mudança que exige outra escala de valores. Pretendo sobretudo resistir à possibilidade de se interpretar a partir da polarização Übermensch/Untermensch, o Übermensch é principalmente o resultado de uma Überwindung (superação, sem o negativo hegeliano), por vezes tão extrema que, como refere Pierre Boudot, “Em Nietzsche, o homem vai tão longe no seu próprio coração para descobrir o que deve ser superado que não estamos certos de o ver reaparecer.”[5] Por outro lado, procuro também imprimir-lhe a dimensão do porvir (combatendo muitas das apropriações mais politizadas), ele há-de constituir-se, talvez assimptoticamente, pela auto-superação do homem, é assim que leio o que diz em ZA II, “Von der Priestern”: “Ainda nunca houve um sobre-homem”.[6] É por isso que se deve privilegiar o sentido dinâmico da Selbstüberwindung. Müller-Lauter tem razão quando defende que o sobre-homem não quer o poder-em-si, como não tem um único objectivo, uma linha definida de desenvolvimento, ele é um caleidoscópio de vontades de sobre-abundâncias.[7]
Não se pense, contudo, num neologismo forjado especialmente para a sua “doutrina” do novo homem. Foi, pelo menos, usado por Novalis, Heinrich Heine e Goethe. Nietzsche recupera-o no prólogo de ZA, porque o homem é algo que “deve” (soll e não muss) ser superado, daí a importância do ensino de Zaratustra.[8] No Inverno de 1882-83 percebeu o poder desta ideia para a sua axiologia, um novo tempo (Eterno Retorno) e um novo homem (sobre-homem) para valorizações fiéis à Terra, uma imanência soberana.[9] O sobre-homem será capaz de dizer sim à vida na sua eterna repetição. Mas antes de ZA já Nietzsche usava o adjectivo “übermenschlich”[10] e outras designações também próximas (“espírito livre”, “ouvinte estético”, “homem supra histórico”...), mostrando como desde muito cedo quis desviar-se do humanismo do seu tempo, compor um homem mais livre, mais hedonista, mais lúcido... Como refere Arthur Danto, sem qualquer instinto de hétero-domínio, não um senhor de escravos, mas um soberano afortunado.[11] Também para Patrick Wotling, os Übermenschen não são mestres, mas deuses epicuristas pouco preocupados com os outros, animados pelo “pathos da distância”.[12]
É a partir disto, desta linha hermenêutica, que justifico a opção de “sobre-homem” para traduzir o der Übermensch nietzscheano, tradução de sentido mais do que tradução à letra, única forma de nos aproximarmos da intenção do autor.
[1] “Und wer ein Schöpfer sein muss im Guten und Bösen: wahrlich, der muss ein Vernichter erst sein und Werthe zerbrechen.”. (KSA 4, 149).
[2] Cf. “Le Nihilisme et la nostalgie de l’être”, in Jean-François Mattéi (dir.), Nietzsche et le temps des nihilismes, Paris : P.U.F., 2005, p. 47-48.
[3] Esta última opção está perigosamente perto da de “sobre-humanidade”, que me parece dever ser evitada. Como refere Pierre Klossowski, a humanidade não interessa em nada a Nietzsche, ele apenas se preocupa com os casos singulares. (Cf. Nietzsche et le cercle vicieux, Paris: Mercure de France. 1969, p. 223; de Nietzsche, e.g., os Fragmentos Póstumos de 1880, 6[70], – não há um fim da humanidade, cada homem deve colocar a sua própria finalidade –; 1881, 11[222], – recusa a ideia de uma humanidade unitária – e de 1888, 15[8], – escreve que a humanidade não avança porque muito simplesmente não existe; mas sobretudo o final do “Vorwort” de Anticristo (ou Anticristão) onde escreve que é necessário ser superior à humanidade, pela elevação e pelo desprezo.
[4] Logo no prefácio desse livro, §2, escreve que a última coisa que prometeria seria a de melhorar a humanidade. François Warin, retomando as metáforas do camelo, leão e criança de ZA, defende que o Übermensch é a “criança”, não o “leão” que depois de tomar consciência da subserviência do “camelo” se revolta e destrói o que está estabelecido. Ele é a “criança” que abandonou a violência, não odeia, não teme, não destrói nem deseja. É um pacifismo da força. (Cf. Nietzsche et Bataille, Paris: P.U.F. 1994, p. 231-3).
[5] Nietzsche et les écrivains français, Paris: 10/18, 1970, p. 89
[6] KSA 4, 119: “Niemals noch gab es einen Übermenschen.”
[7] Cf. Nietzsche: His Philosophy of Contradictions and the Contradictions of his Philosophy, Chicago: University of Illinois Press, 1999. p. 80.
[8] “Ich lehre euch den Übermenschen. Der Mensch ist Etwas, das überwunden werden soll. Was habt ihr gethan, ihn zu überwinden?” (ZA, “Vorrede” §3; KSA 4, 14).
[9] “Der Übermensch ist der Sinn der Erde. Euer Wille sage: der Übermensch sei der Sinn der Erde!” (ZA, “Vorrede” §3; KSA 4, 14).
[10] E.g. Segunda Inactual, §6; Humano Demasiado Humano I §143, II §73; Aurora §27, 60, 113, 548.
[11] “The Übermensch, accordingly, is not the blond giant dominating his lesser fellows. He is merely a joyous, guiltless, free human being, in possession of instinctual drives, which do not overpower him. He is the master and not the slave of his drives, and so he is in a position to make something of himself rather than being the product of instinctual discharge and external obstacle.” (Arthur Danto, Nietzsche as Philosopher, New York, Macmillan, 1965, p. 199-200).
[12] Nietzsche et le problème de la civilisation, Paris: P.U.F., 1999, p. 342-43. Por isso, continua Patrick Wotling, não lhes interessa a supremacia política, mas a transfiguração da existência em direcção a uma maior soberania. Todavia, o “deus epicurista” serviu sobretudo para a escrita do ZA II e Fragmento Póstumo de 1883, depois disso parece “por vezes” (parfois) desviar-se para a procura da dominação. (Idem, p. 344). Wotling realça também a proposta de um novo homem assente no critério do alargamento das perspectivas que incarna, cita em apoio o Fragmento Póstumo de 1887 10[17], onde se mostra um homem cheio de “luxos excedentários”, o contrário exacto dos especialistas, dos homens redutoramente especializados. Refere ainda o de 1884, 26[119], no qual o homem mais sábio seria o mais rico em contradições e, da mesma época, o 27[59] sobre a grande diversidade de instintos e impulsos necessária ao homem supremo.