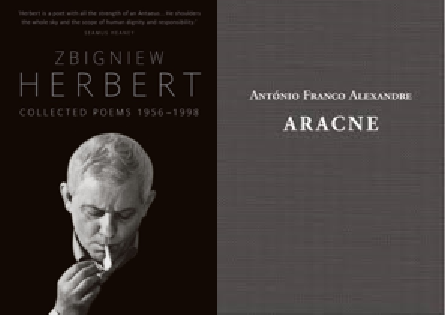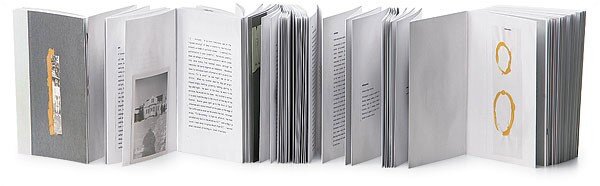O primeiro poema que ouvi (pois que o leste na Flâneur) de Gatos no Quintal foi o “Depois de Kaprow”, e, se não me falha a memória, foi o riso total na sala. É, para mim, a par de “Aquiles e a Tartaruga” e “Aula de Filosofia”, o poema mais forte do livro. Nele falas de coisas muito sérias, do happening do Kaprow, de Damien Hirst, da Oresteia, do Rambo, e, no entanto, com um humor muito bem feito, e o mais engraçado, no fim o poema torna-se auto-irónico: “isto é poesia?”. Podes falar um pouco desse teu poema? És um apreciador de selfie stick?
Alguns dos meus poemas agregam matéria diversa que anda solta na minha cabeça – ideias, frases, factos – em torno de um núcleo. Foi isso que aconteceu com o “Depois de Kaprow”. Ideias sobre definição de arte, limites éticos da arte, paródia a uma conversa entre amigos sobre uma viagem à Grécia, noções sobre como nos relacionamos com a arte, e como a invasão dos social media na nossa intimidade condiciona a relação com a arte, foram encontrado o seu lugar em torno de um núcleo central: a narrativa de uma reacção estética de um amigo a uma instalação. Posso contar a história aqui: em 2010, creio, fui a Madrid com a Tatiana e dois amigos e passámos quatro ou cinco dias a ver museus. No Museu Reina Sofía, a necessitar de descanso do peso de grande arte, decidimos fazer uma pausa para fumar. Descemos até ao pátio central de onde um dos meus amigos (o Manel), olhando para o interior, viu uma pilha de pneus no chão, e comentou “é uma vergonha um museu destes ter as arrecadações à mostra”. “Não me parece que sejam as arrecadações, Manel”, respondeu o André (o meu outro amigo), “eu acho que é uma instalação”. E assim era, o que deixou o Manel mais exaltado do que o que qualquer um de nós ousara esperar. Com o ímpeto desesperado de um homem que acaba de sofrer um desgosto amoroso, o Manel, normalmente uma figura serena, começa a interpelar quem caminhava ali ao pé, apontando para a instalação e perguntando “Está en crer que esto es arte? Neumáticos! Son neumáticos!”, a tal ponto exaltado em que uma segurança se aproxima, pedindo-lhe que se acalmasse. Até que olhou para nós, com lágrimas na cara de tanto rir, e também a senhora se começou a rir.
Eu não tenho nada contra selfie sticks. A não ser achar que quem fosse apanhado com um devia levar com uma multa pesada, depois de ser espancado com ele. A cultura da selfie faz com que deixemos de estar disponíveis para a arte, nós, a nossa gloriosa vidinha, passa a estar no centro de tudo. E lá estamos nós: a nossa cara sorridente a comer um croquete, nós a beijarmos a mulher amada enquanto olhamos para a câmara, nós ao lado da Mona Lisa com um sorriso aparvalhado. A arte passa a ser um adereço sem outro valor que não aquele que empresta à nossa historiazinha, mesquinha e enfadonha, que insistimos em contar. E o mundo fica mais pobre e a nossa existência perde significado. (Sinto-me a envelhecer enquanto escrevo estas linhas.)
Ainda sobre “Gatos de Quintal”, surpreendeu-me a tua “Aula de Filosofia”. Para mim, que nasci nos anos 80, ler aquilo foi não só divertido, como me relembrou de uma realidade de que já me tinha esquecido: a tortura que foi, para mim e para os meus colegas, as primeiras leituras de Kant; ouvir a palavra “imperativo” vezes e vezes seguidas atormenta qualquer miúdo. Esse poema lembrou-me um poema muito bonito de João Miguel Fernandes Jorge – “Durante um exercício de filosofia”, mas o teu, ao contrário de João Miguel, dá a versão do aluno numa aula de filosofia nos anos 90. E falo disso porque sinto que recuperas memórias que são de muitos de nós, e reatualizas as pequenas histórias de um mundo sem a parafernália tecnológica em que estamos enfiados. Ao dizer isso, pareço que estou a falar de nostalgia de um tempo que não existe, em parte sim, mas isso não se encontra nos teus poemas, porque neles há sempre um humor, mas não deixa de ser um humor agridoce. Faz sentido o que estou a dizer?
Sim, acho que sim. Eu prefiro não condicionar a leitura do poema. Mas posso partilhar o substracto autobiográfico que o informa: tive a sorte de ter uma excelente professora de Filosofia no 12º ano, a Fernanda Melo, de quem hoje ainda sou amigo. No primeiro trimestre lemos o Górgias de Platão, no segundo a Fundamentação da Metafísica de Costumes, de Kant, e no terceiro O Nascimento da Tragédia, de Nietzsche. Tudo grandes livros, que influenciaram a minha decisão de estudar Clássicas. Mas quando somos adolescentes, temos outras preocupações que imperativos categóricos e preposições analíticas. Foi bastante difícil de entrar em Kant, mas quando consegui furar através do estilo professoral e enfadonho, descobri um mundo conceptual idealista de uma beleza tão frágil que me comoveu. Há nesse poema também algumas referências a uma peça de Thomas Bernhard, Kant, em que o filósofo faz um cruzeiro até Nova Iorque na companhia da mulher para tratar das cataratas. E tem um papagaio de estimação que papagueia Imperativo! Imperativo!. Assisti a uma representação da peça há uns anos, durante o Festival de Teatro de Almada. Creio que na companhia da Fernanda.
Isso está a ficar sério demais! Quando bebemos “uma cerveja na Grécia” (Gatos no Quintal, (2018))? Há uma perversão ou atualização da “temporada” do Rimbaud? Ou não andavas a pensar nisso? Nessa secção do livro falas de uma Grécia contemporânea lançada um pouco ao deus-dará e ao inferno. Sei que já foste algumas vezes à Grécia; o que mais gostas na Grécia? Não tens um chá para me recomendar em vez de uma cerveja? Eu sempre detestei cerveja. O que me recomendas?
Sim, a “cerveja” é uma referência à versão de Cesariny de Rimbaud, um livro muito importante para mim, quando comecei a descobrir a poesia. Sempre me irritou a imagem romântica de uma Grécia do espírito, idealizada, a-histórica, depurada de tensões e violência, onde os próprios actos de violência são domesticados enquanto abstracções. Uma espécie de resort cultural onde se vai a banhos para relaxar o espírito das atribulações da vida contemporânea. Neste não-lugar a bebida por excelência é o vinho (misturado). Mandar vir uma cerveja e acender um cigarro na zona de não fumadores (há uma alusão a tabaco na epígrafe, tirada do meu livro introdutório preferido à cultura grega antiga, de HDF Kitto) deste resort do espírito funcionam como uma declaração de intenções.
Eu não sou muito de chás. Nem de cerveja, para ser sincero. Prefiro vinho ou cidra.
Do que mais gosto na Grécia? Gosto do sol, gosto do mar, gosto da história, gosto da comida, gosto das pessoas. É tudo isso e algo mais. Não consigo explicar porque me sinto tão bem naquele país. Da primeira vez que fui, apanhei o ferry em Atenas para Paros. E não te consigo descrever o que senti quando o barco passou o cabo Súnio, ou quando mais tarde, vimos Serifo à nossa esquerda enquanto o sol se punha. Foi a mesma plenitude que senti quando subimos a encosta que leva às ruínas do templo de Apolo em Naxos, e olhei para trás e vi o porto e a linha da costa, ou quando descemos o monte Cinto em Delos. Desculpa, sei o quão irritante são estas exaltações. Daqui a pouco estou a mostrar álbuns de fotografias.
A Barbara Stronger (1983-2019), antes de se suicidar, gostava muito da primeira parte de Gatos no Quintal, mas ficou sempre sem saber onde ficava aquele “Rua da igreja”. Onde fica essa rua? E que é feito dessas personagens todas: o Benjamim, a Maria, o João, o Filipe, o Ricardo, o Francisco… Esses nomes parecem ser toda uma geração enganada, não? O que mais gosto é do Francisco, aquilo sou eu e minha mãe; mas também te vislumbro naquela pele. Por falar em gatos, o meu Kafka está mais gordo e pergunta por aquilo que já ia perguntar: para quando uma reedição de Gatos no Quintal?
Os meus pêsames. Nunca cheguei a conhecer a Barbara, mas sei que vocês eram próximos. E agrada-me saber que ela gostava da “Rua da igreja”. A resposta correcta à tua pergunta é que a “Rua da igreja” não existe, existe apenas no espaço poético, seja lá o que isso for. A resposta verdadeira é que fica no Feijó. A igreja entretanto foi destruída, e outra construída no seu lugar. Algumas das pessoas morreram, outras vão indo – o Ricardo casou-se este ano, o Sr. João M. está velhote mas lá anda –, outras sou eu. O teu Kafka é um belo gato, bem como a Ariel. Manda-lhes um abraço meu. Apesar do interesse dele, não me parece que seja partilhado por gente suficiente que justifique uma reedição do livro.
Falemos agora da tua última “cassete” – Porque canta um pequeno coração. Nessa cassete, o extra final é o coroar do livro, a cereja em cima do bolo. Há nele um lado teatral, retirado (quase) das comédias romanas (sobretudo romanas, não sei porque penso nisso). Mas antes dele queria que falasses um pouco sobre aquele que é o mais belo poema do livro, a meu ver (claro) – “O santuário de Atena Kokkinê em Delos”, se for possível. Aquele “pequeno ouriço-cacheiro” fez-me pensar em Derrida e na própria natureza da poesia, de que ela deve ser um ouriço; mas o que mais fiquei curioso foi em ver aquela fotografia. Tens de partilhar a foto.
Desculpa, este é um poema demasiado pessoal, preferia não falar sobre ele.