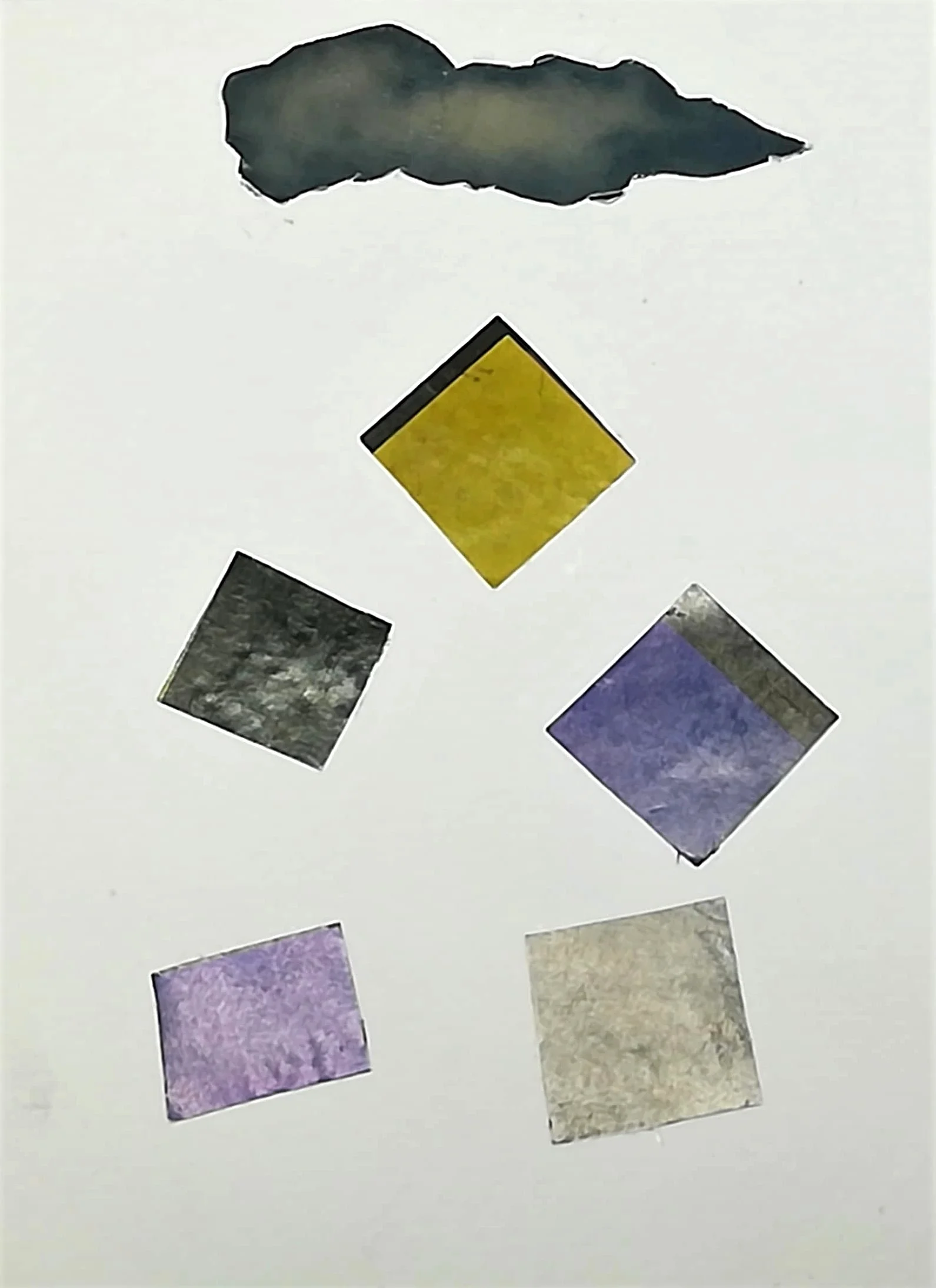Tradução: João Coles
Um dos temas mais misteriosos do teatro trágico grego é a predestinação dos filhos em pagar pela culpa dos pais. Não importa se os filhos são bons, inocentes, pios: se os pais pecaram, têm de ser punidos. É o coro – um coro democrático – que se declara portador de tal verdade: e enuncia-a sem a introduzir ou ilustrá-la, como lhe parece natural. Confesso que este tema do teatro grego sempre o aceitei como algo alheio ao meu conhecimento, que aconteceu «algures» e «noutro tempo». Não sem alguma ingenuidade escolástica, sempre considerei este tema como absurdo e, por sua vez, ingénuo, «antropologicamente» ingénuo.
Mas mais tarde chegou o momento da minha vida em que tive de admitir pertencer, sem escapatória, à geração dos pais. Sem escapatória porque os filhos não só nasceram, não só cresceram, mas alcançaram a idade da razão, e o seu destino, portanto, começa a ser inelutavelmente aquele que deve ser, tornando-se adultos.
Observei com tempo nos últimos anos estes filhos. Ao fim e ao cabo, o meu juízo, por muito que me pareça também injusto e impiedoso, é de condenação. Procurei muito compreender, fingir não compreender, contar com as excepções, esperar por alguma mudança, considerar historicamente, isto é, além dos juízos subjectivos do mal e do bem, a realidade deles. Mas foi inútil. O meu sentimento é de condenação. Os sentimentos não mudam. São eles que são históricos. É isso que experienciamos, que é real (apesar de toda a insinceridade que possamos ter com nós próprios). Afinal – ou seja hoje, dias primeiros de 75 – o meu sentimento é, repito, de condenação. Mas posto que, talvez, condenação é a palavra errada (ditada, talvez, pela referência inicial ao contexto linguístico do teatro grego), tenho de a especificar: mais do que uma condenação, o meu sentimento é, de facto, uma «cessação de amor»: cessação de amor que, com efeito, não dá lugar ao «ódio» mas à «condenação».
Eu tenho algo de geral, de imenso, de obscuro a reprovar aos filhos. Algo que fica aquém do verbal: que se manifestem irracionalmente, no existir, ao «experienciar sentimentos». Agora, posto que eu – pai ideal – pai histórico – condeno os filhos, é natural que, subsequentemente, aceite de algum modo a ideia do seu castigo.
Pela primeira vez na minha vida consigo assim libertar da minha consciência, através de um mecanismo íntimo e pessoal, aquela terrível, abstracta fatalidade do coro ateniense que reitera ser natural o «castigo». Acontece que o coro, dotado de tanta imémore e profunda sabedoria, acrescentava que aquilo de que os filhos eram castigados era a «culpa dos pais».
Pois bem, não hesito nem um momento em o admitir; isto é, em aceitar pessoalmente tal culpa. Se eu condeno os filhos (por causa de uma cessação de amor para com eles), e portanto lhes pressuponho um castigo, não tenho dúvidas de que tudo isto acontece por minha culpa. Enquanto pai. Enquanto um dos pais. Um dos pais que não se tomaram como responsáveis, primeiro, do fascismo, depois de um regime clérico-fascista, falsamente democrático, e que, por fim, aceitaram a nova forma de poder, o poder dos consumos, a derradeira das ruínas, a ruína das ruínas.
A culpa dos pais que os filhos têm de pagar é, portanto, o «fascismo», seja nas suas formas arcaicas, seja nas suas formas inteiramente novas – novas sem equivalentes possíveis no passado? É difícil para mim admitir que a «culpa» é esta. Talvez por razões privadas e subjectivas. Eu, pessoalmente, sempre fui antifascista, e não aceitei nunca o novo poder de que realmente falava Marx, profeticamente, no Manifesto, acreditando que falava do capitalismo do seu tempo. Quer parecer-me que há algo de conformista e demasiado lógico – ou seja, de não-histórico – ao identificar nisto a culpa.
Já ouço à minha volta o «escândalo dos pedantes» – seguido da sua chantagem – ao que estou para dizer. Já consigo ouvir os argumentos deles: é retrógrado, reaccionário, inimigo do povo, que é incapaz de compreender os elementos mais dramáticos de novidade que existem nos filhos, incapaz de compreender que estes são, ainda assim, vida. Pois bem, penso eu, desde que também eu tenha direito à vida – pois, mesmo sendo pai, não é por isso que deixo de ser filho. Além do mais, para mim a vida pode manifestar-se egregiamente, por exemplo, na coragem em desvelar aos novos filhos o que realmente sinto para com eles. A vida consiste antes de mais no impertérrito exercício da razão: incerto nos partidos tomados, e muito menos no partido tomado pela vida, que é um qualunquismo[1] puro. É melhor ser inimigo do povo do que inimigo da realidade.
Os filhos que nos rodeiam, especialmente os mais jovens, os adolescentes, são quase todos eles monstros. O seu aspecto físico é quase aterrador, e quando não é aterrador é incomodamente infeliz. Pelames horríveis, cabeleiras caricaturais, carnaduras pálidas, olhos apagados. São máscaras de uma certa iniciação bárbara. Ou então são máscaras de uma integração diligente e inconsciente, que não faz ter dó.
Depois de terem erguido contra os pais barreiras destinadas a relegar os pais ao gueto, os filhos encontraram-se eles mesmos enclausurados no gueto oposto. No melhor dos casos, estão agarrados aos arames farpados desse gueto, olhando para nós, todavia homens, como mendigos desesperados, que pedem algo apenas com o olhar, porque não têm coragem, nem talvez a capacidade de falar. Estes nem nos melhores, nem nos piores casos (são milhões) têm expressão alguma: só a ambiguidade feita carne. Os seus olhos em fuga, o seu pensamento perpetuamente alhures, têm demasiado respeito ou demasiado desprezo juntos, demasiada paciência ou demasiada impaciência.
Aprenderam algo mais do que os seus coetâneos de há dez ou vinte anos atrás, mas não o suficiente. A integração não é um problema moral, a revolta codificou-se. No pior do casos, criminosos puros e duros. Quantos são estes criminosos? Na verdade, podiam ser quase todos. Não há um grupo de rapazes que se encontre pela rua que não pudesse ser um grupo de criminosos. Estes não têm luz alguma nos olhos: os traços são traços contrafeitos de autómatos, sem que nada de pessoal os caracterize vindo de dentro.
A estereotipia faz deles traiçoeiros. O silêncio deles pode preceder a um trépido pedido de ajuda (que ajuda?), ou pode preceder a uma facada. Eles não são donos dos próprios actos, que é o mesmo que dizer dos seus músculos. Não conhecem bem qual a distância entre causa e efeito. Regrediram – sob o aspecto exterior de uma maior educação escolástica e de uma melhor condição de vida – para uma rudez primitiva. Se por um lado falam melhor, ou seja assimilaram o degradante italiano médio – por outro lado, são quase afásicos: falam velhos dialectos incompreensíveis, ou calam-se, lançando de quando em vez gritos guturais e interjeições todas elas de carácter obsceno.
Não sabem sorrir nem rir. Sabem apenas rir com desdém ou casquinar. Nesta enorme massa (típica, sobretudo, uma vez mais!, do inerme Centro-Sul) existem elites nobres, às quais pertencem naturalmente os filhos dos meus leitores. Mas estes meus leitores não quererão afirmar que os seus filhos são rapazes felizes (desinibidos ou independentes, como acreditam e repetem certos jornalistas imbecis, comportando-se como enviados fascistas num lager). A falsa tolerância também tornou significativas, no seio da massa dos homens, as mulheres. Elas são geralmente, pessoalmente, melhores: vivem efectivamente um momento de tensão, de libertação, de conquista (ainda que de modo ilusório). Mas no quadro geral a sua função termina ao ser regressiva. Uma liberdade «oferecida», com efeito, não pode vencer nelas, naturalmente, os hábitos seculares da codificação.
Claro: os grupos de jovens cultos (de resto, muito mais numerosos que em tempos) são adoráveis porque dão dó. Estes, por causa de circunstâncias que para as grandes massas são até agora somente negativas, e atrozmente negativas, são mais avançados, subtis, informados do que os grupos análogos de dez ou vinte anos atrás. Mas o que podem fazer da sua fineza e da sua cultura?
Portanto, os filhos que vemos à nossa volta são filhos «castigados»: «castigados», enquanto isso, pela sua infelicidade, e mais tarde, no futuro, quem sabe de quê, de quais hecatombes (este é o nosso sentimento, insuprimível). Mas são filhos «castigados» pelas nossas culpas, isto é, pela culpa dos pais. É justo? Era esta, na verdade, para um leitor moderno, a pergunta, sem resposta, do motivo dominante do teatro grego.
Pois bem, sim, é justo. O leitor moderno viveu uma experiência que lhe torna finalmente, e tragicamente, compreensível a afirmação - que parecia tão cegamente irracional e cruel – do coro democrático da antiga Atenas: ou seja, que os filhos têm de pagar pelos pecados dos pais. Efectivamente, os filhos que não se libertam da culpa dos pais são infelizes: e não há sinal mais decisivo e imperdoável de culpa do que a infelicidade. Seria demasiado fácil e, num sentido histórico e político, imoral, que os filhos se justificassem – naquilo que neles há de feio, repelente, desumano – pelo facto de que os pais erraram. A herança paterna negativa pode dar-lhes uma justificação pela metade, mas pela outra metade são eles os responsáveis. Não há filhos inocentes. Tiestes é culpado, mas também o são seus filhos. E é justo que sejam castigados também por aquela metade de culpa alheia da qual não foram capazes de se libertar.
Permanece sempre, todavia, o problema de qual é na verdade a tal «culpa» dos pais. É isto que substancialmente, ao fim e ao cabo, importa aqui. E é tão importante na medida em que, tendo provocado nos filhos uma condição tão atroz e um consequente castigo tão atroz, deve tratar-se de uma culpa gravíssima. Talvez a culpa mais grave cometida pelos pais em toda a história da humanidade. E estes pais somos nós. Coisa que nos parece incrível.
Como já aludi entretanto, devemos libertar-nos da ideia de que tal culpa se identifica com o fascismo velho ou novo, isto é, com o efectivo poder capitalista. Os filhos que hoje são tão cruelmente castigados pelo seu modo de ser (e no futuro, claro, por qualquer coisa mais objectiva e terrível), são também filhos de antifascistas e de comunistas. Portanto, fascistas e antifascistas, patrões e revolucionários, têm uma culpa em comum. Todos nós, de facto, até hoje, com um racismo inconsciente, quando falámos especificamente de pais e filhos, pensámos sempre que estávamos a falar dos pais e dos filhos burgueses.
A história era a sua história. O povo, de acordo connosco, tinha uma história à parte, arcaica, na qual os filhos, simplesmente, como ensina a antropologia das velhas culturas, reencarnavam e repetiam os pais. Hoje mudou tudo: quando falamos de pais e filhos, se por pais continuamos a presumir os pais burgueses, por filhos presumimos que sejam tanto os filhos burgueses como os filhos proletários. O quadro apocalíptico que esbocei acima, dos filhos, engloba burguesia e povo.
As duas histórias, portanto, uniram-se: e é a primeira vez que isto acontece na história do homem. Tal unificação sucedeu sob o signo e vontade da civilização do consumo: do «progresso». Não se pode dizer que em geral os antifascistas, e particularmente os comunistas, se tenham deveras oposto a uma unificação do género, cujo carácter é totalitário – pela primeira vez verdadeiramente totalitário – apesar de o seu carácter repressivo não ser arcaicamente policial (e quando muito recorre a uma falsa permissividade).
A culpa dos pais, portanto, não é apenas a violência do poder, o fascismo. Mas também: primeiramente, a remoção da consciência, por parte de nós antifascistas, do velho fascismo, termo-nos comodamente libertado da nossa profunda intimidade (Pannella) com este (termos considerado os fascistas «os nossos irmãos parvos», como diz uma frase de Sforza relembrada por Fortini); segundo, e sobretudo, a aceitação – tão culpada quanto inconsciente – da violência degradante e dos verdadeiros, imensos genocídios do novo fascismo.
Porquê tal cumplicidade com o velho fascismo e porquê tal aceitação do novo fascismo? Porque há – e eis o ponto da questão – uma ideia condutora sincera ou desonestamente comum a todos: ou seja, a ideia de que o mal maior do mundo é a pobreza e que por isso a cultura das classes pobres deva ser substituída pela cultura da classe dominante.
Noutras palavras, a nossa culpa enquanto pais consistiria no seguinte: em acreditar que a história não é nem possa ser outra senão a história burguesa.
In Lettere luterane
1 NT: o “qualunquismo” está associado ao movimento político Fronte dell'uomo qualunque (Frente do homem qualquer, ad litteram), que nasceu da revista homónima publicada em Dezembro de 1944 por Guglielmo Giannini. O “qualunquismo” caracteriza-se pela desconfiança nas instituições, nos partidos políticos, na classe política e na política em geral, que é considerada um obstáculo à autonomia e à livre escolha do indivíduo. No debate político, o termo “qualunquista” é geralmente utilizado de modo pejorativo. É uma atitude condenada por indivíduos politicamente activos na sociedade, como Pasolini, que sublinham os riscos da renúncia em participar num sistema democrático.