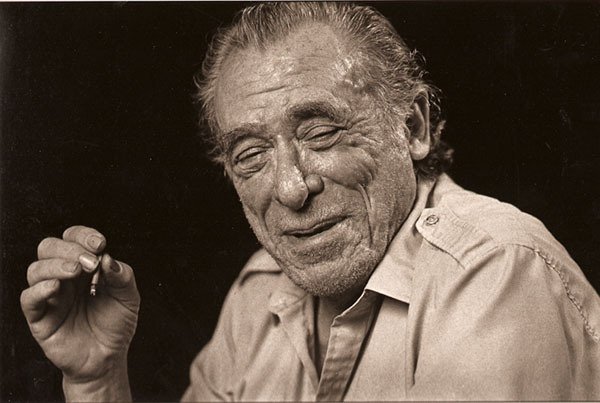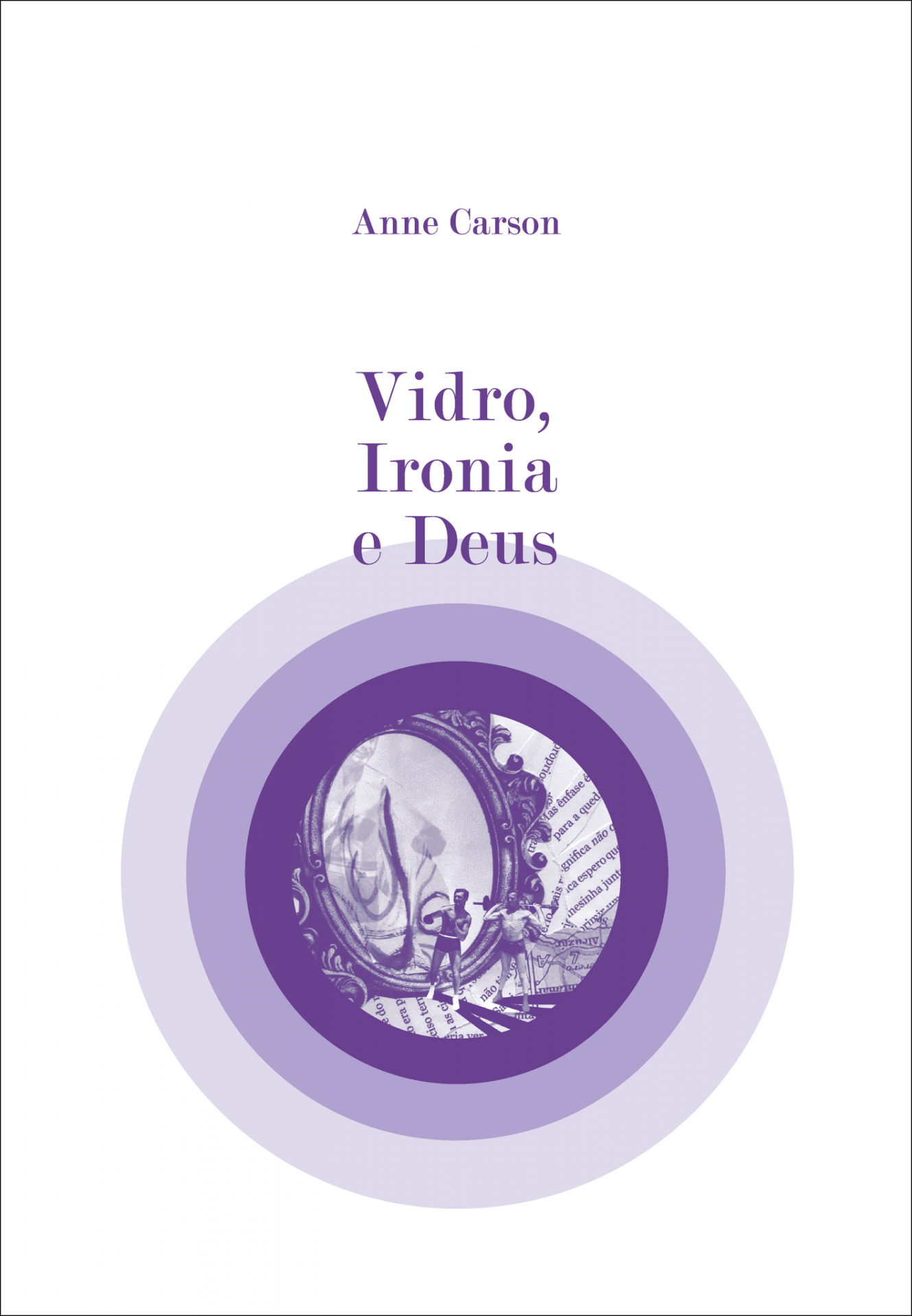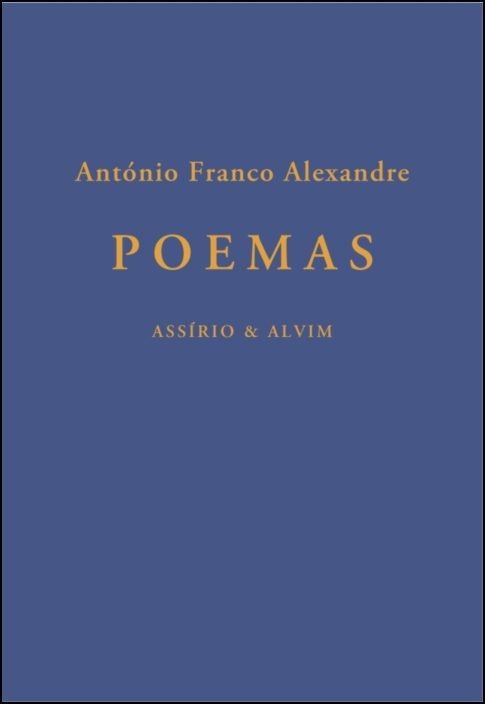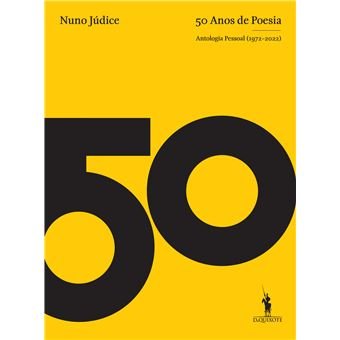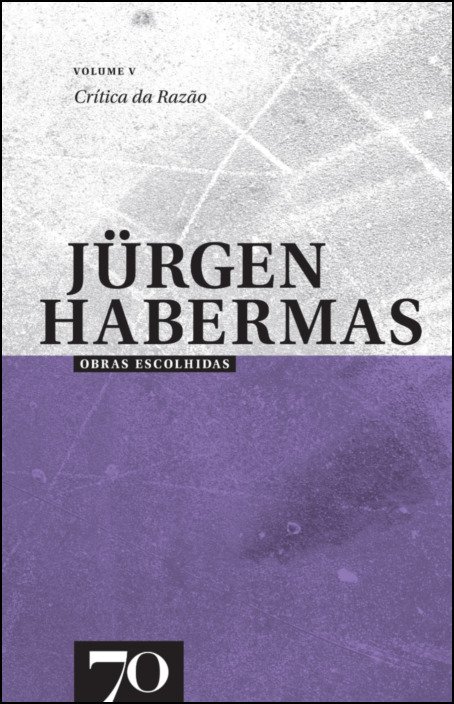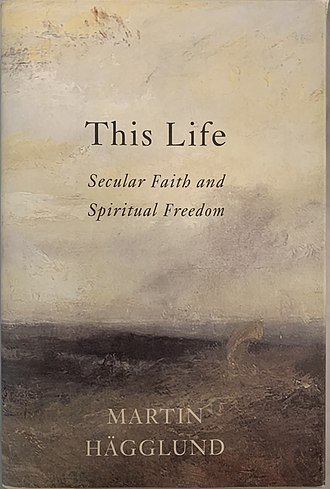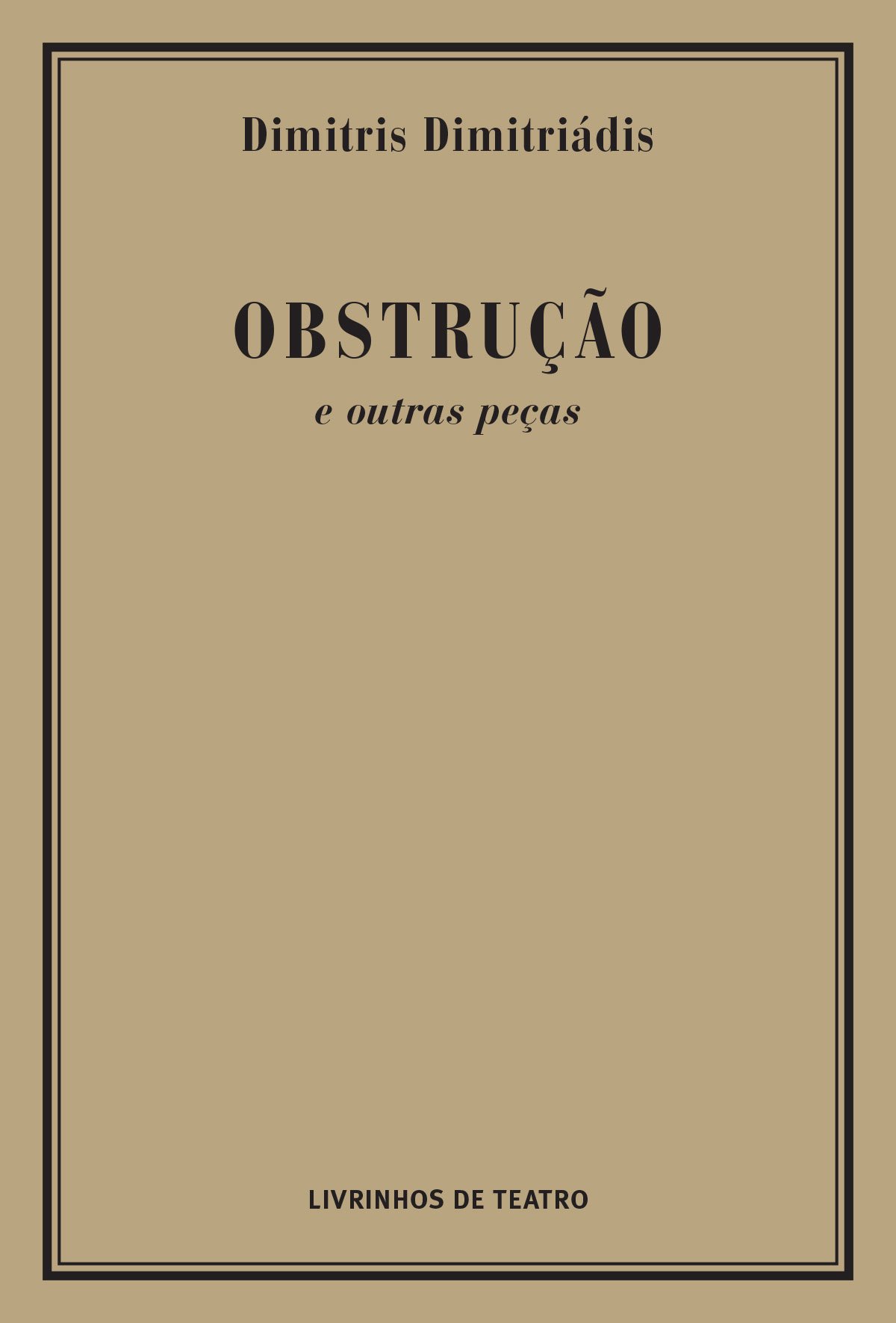Nietzsche e a moral
/Podem passar desde já ao ponto II, escrito com um discurso mais direto, mas nunca literal, ecos da voz de Nietzsche, fios de Ariadne que nos podem levar, não sem riscos, a uma sala do seu labirinto. No ponto I coloco em perspetiva a sua economia do bem e do mal, ou melhor, do bom e do mau. Em modo síntese, é preciso não esquecer.
I
Tenho a sensação que demasiadas coisas trabalham em mim, há um balanço generalizado de fim de século (talvez termine agora o século xx). Estamos exaustos, procuramos o bem e o mal e não os encontramos. Nada é claro, apagaram-se os focos que iluminavam prodigiosamente alguns trilhos da vida, vivemos na obscuridade, do presente, mas sobretudo do futuro.
Nietzsche disse coisas semelhantes, a sua genealogia do niilismo e da decadência fizeram-no desconfiar da pujança ocidental, reino de uma moral «hostil à vida», pedra de toque do cristianismo (por crença teológica e desonestidade filológica) e da ciência, cada uma à sua maneira preocupadas com verdades metafísicas e a produção de boas-consciências (auto-satisfeitas por seguirem o bem da época). Pelo contrário, os magníficos gregos valorizavam a aparência, a arte, a ilusão, o perspetivismo e o erro. A crítica axiológica nietzschiana acentua-se em Aurora (1881), na Gaia Ciência e Zaratustra (1882-1885), com a forte convicção de que a morte de Deus (processo de secularização) dará origem ao sobre-homem, um pós-humanismo assente no devir, no individual, na liberdade e na interpretação. O projeto de uma vasta crítica da moral prossegue em 1886 com Para lá Bem e Mal, Para a Genealogia da Moral no ano seguinte e os Crepúsculo dos Ídolos e Anticristo (ou Anticristão) em 1888. Nestas investigações antropológico-axiológicas, destaco a ideia de que «a vida é algo de essencialmente amoral», apesar de ser a possibilidade de todos os valores. O combate à moralidade cristã consagra a vida (é sintomático que a única composição musical publicada por Nietzsche tenha sido o Hino à Vida (Hymnus an das Leben), para coro e orquestra, em 1887 (Leipzig: E.W. Fritzsch). Retomou parte de o Hino à Amizade (Hymnus auf die Freundschaft) de 1873/74, a letra é de um poema de Lou von Salomé, Oração à Vida). Nietzsche recupera uma mundivisão antiga: «Enquanto filólogo e homem de palavras, batizei-a, não sem alguma liberdade — pois quem saberia verdadeiramente o nome do anticristo? — com o nome de um deus grego: chamei-lhe dionisíaca.» («Ensaio de Autocrítica», 1886).
Dioniso funciona para ele como uma divindade contraditória: geração e corrupção, vida e morte, bem e mal..., sem querer superar a tensão agónica que contém, retomando o princípio pré-reflexivo do agon pré-clássico. Temos, então, a figuração do anticristo em Dioniso, e decerto que ele pode representar esse papel de vida espontaneamente plena para além bem e mal. Mas esta função só emerge na nova interpretação mais de dez anos após a publicação do livro cujo pano de fundo é a da recuperação de uma cultura apolínea-dionisíaca, O Nascimento da Tragédia (1872). Quando escreveu este livro não teve a clarividência nem a coragem, diz ele no §6 do «Ensaio de Autocrítica», para opor o dionisíaco ao cristianismo (estava enfeitiçado por Wagner e Schopenhauer), e por isso usou fórmulas kantianas e schopenhauerianas [um pouco hegelianas, também]. Mas aquilo que mais critica, auto-critica, é a esperança infundada no renascimento do trágico grego, principalmente na música alemã (leia-se, Wagner), afinal a menos grega e a mais romântica de todas. Deste modo, revogando a falsa solução dos últimos §§ de O Nascimento da Tragédia (centralidade da música wagneriana), mantém-se viva a pergunta sobre como seria uma nova música dionisíaca. Sem responder cabalmente, termina numa espécie de liturgia anticristã onde o dançarino Zaratustra consagra o riso como comportamento superlativo.
Excerto do quarto livro de Assim Falava Zaratustra, «Do homem superior», final do §20: «Das Lachen sprach ich heilig: ihr höheren Menschen, lernt mir – lachen!». No §294 de Para lá Bem e Mal, escolhendo neste caso confrontar-se com Thomas Hobbes, confessa que gostaria de estabelecer uma classificação dos filósofos de acordo com o seu riso, que também os novos deuses, na medida em que filosofam, saberão rir, de modo «sobre-humano» (übermenschliche). François Warin tem em Nietzsche et Bataille (P.U.F., 1994) um bom capítulo sobre o riso na filosofia (destaca Nietzsche e Bataille, mas atravessa igualmente o pensamento de outros filósofos: Platão, Aristóteles, Descartes, Espinosa...). Para Warin «O riso é essa janela de luz que se abre para a noite, para o abismo do não-saber. Todo o mundo sabe que quem se deixou levar uma vez pela convulsão do riso, do riso “louco”, a angústia de rir “do que está fora de lugar... redobra o riso”; quem ri perde o equilíbrio e abandona-se a um deslizamento vertiginoso, a um movimento que o destrói.» (p. 96).
Como refere no centro do debate sobre a revolução moral, o homem nobre (der vornehme Mensch) determina os valores sem qualquer aprovação extrínseca, dignifica as coisas por si, «é criador de valores», e para isso é fundamental que não seja um homem do ressentimento (ódio e inveja que não se exterioriza), que seja um homem, um sobre-homem que queira e saiba rir. Valores de contexto, presos à história, cúmplices das circunstâncias. Por isso, como muito bem viu Gilles Deleuze, a ética nietzschiana não se tornará anacrónica, os «novos» valores do sobre-homem serão eternamente juvenis, na medida em que valem somente para acontecimentos singulares, concentram o princípio e o fim axiológicos que definem uma porção de vida. Não podendo ulteriormente cristalizar-se numa tábua de valores aspirando à universalidade. O sobre-homem cria valores para cada circunstância, com a única condição de não se oporem à vida, uma moral assente na criação festiva e permanente de valores que sublimem a vontade de viver. Se for caso disso, viver uma e outra vez a mesma coisa, divinizando cada instante e cada acontecimento dentro do tempo do eterno retorno do mesmo.
II
É, pois, indiscutível que a moral nietzschiana tem um pendor individual, retornando ao ễthos grego, a formação do carácter pessoal, que concorria e muitas vezes se sobrepunha às leis da cidade (Antígona, Sócrates…). Como justificação, não esquecendo algumas das coisas que disse anteriormente, escolhi dois textos de Nietzsche, escolhi-os como prova filosófica (sempre em perspetiva), mas também porque me acompanham no dia a dia, através deles resolvo muitas dúvidas sociais. Nietzsche vive em mim.
1- Numa nota póstuma de 1880, 6[203], diz que «buscamos aqueles cuja existência é para nós uma alegria e encorajamo-los, enquanto debandamos dos outros — eis a verdadeira moralidade.»
2- No §304 de A Gaia Ciência: «No fundo, repugna-me toda a moralidade que diz: “não faças isso! Diz que não! Vence-te!”. Estou, inversamente, disposto a aceitar aquela moral que me impele a fazer algo e a repeti-lo e a sonhar com isso de manhã à noite e durante a noite, e a não pensar absolutamente em nada senão em fazer isso bem, tão bem como só a mim é possível!»
Num e no outro caso, a centralidade do bem e mal, ou do bom e mau, está no indivíduo, nas escolhas que faz. Escolhe aproximar-se e afastar-se de outrem, escolhe ser perfeito (orgulho em vez de humildade, Dioniso em vez de Cristo). Se se trata de um individualismo exaltado? Não, trata-se de transformar o acaso do nosso nascimento numa necessidade. Viver, diz Nietzsche no § 3 do prefácio à Gaia Ciência é incandescer: «Viver — isso para nós quer dizer metamorfosear constantemente tudo o que somos em luz e chama». (Leben — das heisst für uns Alles, was wir sind, beständig in Licht und Flamme verwandeln).